A carta de Trump a Lula, datada de 9 de julho de 2025, deveria fazer o planeta se lembrar de um antigo axioma diplomático: cartas abertas raramente pretendem convencer o destinatário; miram, antes, o tribunal da opinião pública — um palco onde cada palavra é espada e chicote ao mesmo tempo. Quando Trump ergue o dedo acusatório, podemos contar que o gesto, como no quadro “Las Meninas”, de Velázquez, devolve ao espectador seu próprio reflexo. A “desgraça internacional” torna-se, no fundo, um retrato invertido das turbulências que atravessam tanto o trumpismo quanto o bolsonarismo: a recusa em aceitar regras de jogo que não lhes sejam favoráveis, o flerte constante com teorias conspiratórias, o apego ao espetáculo como forma de retórica. Lembro-me de um aforismo de Karl Kraus, o satirista vienense: “A imprensa foi inventada para que mentiras parecessem verdades”. Se Kraus vivesse hoje, trocaria talvez a palavra “imprensa” por “rede”, e constataria que a carta de Trump é um “post” avant la lettre: contém menos diplomacia e mais algoritmo, menos Estado e mais “engajamento”. Mas por que o Brasil? Porque nossa história republicana tem uma estranha vocação para o inacabado. Deodoro proclamou a República sob o sol de novembro como quem acorda mal-humorado de uma sesta; oscilamos entre utopias messiânicas e soluções de quartel. Ao mencionar Bolsonaro como “líder altamente respeitado”, Trump apela à velha lisonja de espelhos rachados, ignorando que “respeito” não é sinônimo de “ruído”. Há, porém, uma lucidez involuntária na frase trumpiana. O tratamento dado a Bolsonaro — investigações, processos, CPI, manchetes — reflete uma nação que ainda tenta aprender que a liturgia democrática não é mero ornamento, mas disciplina. E disciplina, adverte Montaigne, é o mais amargo dos elixires: cura sem prometer doçura. Na mesma missiva, dizem os confidentes de Washington, havia elogios a Bolsonaro que fariam corar um florista barroco, um ramalhete digno de Vianna Moog comentando O Puxador de Ferro. Trump sabe que o superlativo é o açúcar que adoça a pílula: quanto mais estridente o louvor, mais fácil ocultar a falta de substância. Lula, que nunca desperdiça metáfora, poderia ter respondido com sete palavras cortantes: “Caro presidente, respeito opiniões, mas defendo instituições.” As frases concisas costumam prolongar-se nos corredores da política até se tornarem fábulas. No fundo, a carta serve de prelúdio a uma ópera maior: a sinfonia dos ressentimentos contemporâneos. Trump e Bolsonaro trocaram elogios como troféus, convencidos de que vitimização rende mais votos que vitória. É a pedagogia do ultraje — técnica descrita por Umberto Eco quando analisava os fascismos eternos: criar inimigos internos e externos, teatralizar a ameaça, prometer redenção. Entretanto, toda ópera precisa de terceiro ato. No libreto do século XXI, esse ato se chama “juridicização”: CPIs, órgãos de controle, Supremo Tribunal, imprensa internacional, tribunais de Haia. Não é à toa que a carta denuncia “desgraça internacional”; onde há investigação, há espanto, e onde há espanto, há manchetes que viajam sem visto. Há quem veja nessas trocas epistolares apenas fofoca diplomática. Mas a crônica — gênero que transita entre o grão de poeira e a galáxia — serve para lembrar que a história é tecida também por bilhetes mal pontuados e travessões mal colocados. Se, no fim, a carta for esquecida, restará a lição: ruídos podem ser combatidos com mais fala, não com mordaça. A liberdade de expressão é esse fio tenso que nos permite caminhar sobre o abismo sem despencar no silêncio. Trump, ao brandir a própria voz, confirma (embora não perceba) que só numa ágora barulhenta alguém como ele poderia berrar contra o vento. Que continuemos, pois, a zelar por essa ágora — ainda que precise, às vezes, de tapumes e varrições. E quando o próximo líder estrangeiro escrever a Lula — ou a qualquer outro — teremos pelo menos a ventura de ler, rir, refutar, aplaudir ou ignorar. Porque, parafraseando Machado de Assis, não há enigma maior que o da palavra livre, nem cadeia mais sombria que a da censura. Ficamos combinados assim: se cartas abertas são espelhos, que cada qual se contemple à luz do dia.
quarta-feira, 6 de agosto de 2025
A AVACALHAÇÃO DEVERIA SER EVITADA , Alexandre Marcos Pereira, in APMP
A avacalhação na política deve ser evitada para promover um debate público mais sério e produtivo.
A Banalidade do Esvaziamento
- A política é reduzida a memes e risadas, perdendo a seriedade necessária.
- A chance de reinventar o comum é desperdiçada em discussões superficiais.
- A avacalhação resulta em um debate improdutivo, onde o foco se perde.
A Importância do Debate Público
- Montesquieu sugere que o governo deve ser invisível, mas presente em cada aspecto da sociedade.
- O debate público deve ser um espaço de construção, não de circo.
- A proposta é criar fóruns onde a transparência orçamentária seja acessível a todos.
Micro Gestos e Pedagogia Republicana
- Reformas titânicas devem ser substituídas por ações menores e mais significativas.
- Expor o orçamento público pode educar a população sobre a gestão dos recursos.
- A pedagogia republicana se constrói com exemplos pequenos, mas repetidos.
O Papel do Riso e da Ironia
- O riso pode ser um mecanismo de defesa, mas também deve ser libertador.
- Exemplos históricos mostram que humor e ação podem coexistir para promover mudanças.
- A ironia deve ser usada para construir, não para destruir.
Propostas para o Futuro
- Sugestão de um "Dia Nacional da Escuta Ativa" para promover diálogos construtivos.
- A criação de plataformas de debate vinculantes pode engajar a população nas políticas públicas.
- A importância de sonhar e imaginar soluções, mesmo diante da impotência.
Conclusão
- Criar situações políticas autênticas é essencial para revitalizar a cidadania.
- A ação é necessária para evitar que a poesia se torne apenas uma abstração.
- O convite é para sair da zona de conforto e buscar o diálogo com o outro.
Livro desconstrói imagem de espiritismo conservador e anticiência. FSP
O espiritismo é uma religião? Que, por sinal, é em sua essência conservadora, vide pesquisas que apontam uma maioria de bolsonaristas entre seus adeptos.
Não e não. Assim responde Alexandre Caldini Neto, estudioso do tema há quase quatro décadas, num livro que descostura alguns sensos comuns sobre a doutrina que, no imaginário nacional, ficou tão associada à imagem de médiuns como Chico Xavier e o mais infame, João de Deus, condenado por abusos sexuais diversos.
No recém-lançado "A Essência do Espiritismo", Caldini Neto prefere tratar seu objeto-tema como uma filosofia mais à moda de Allan Kardec, o francês que a fundou 168 anos atrás, com a publicação do seu "Livro dos Espíritos".
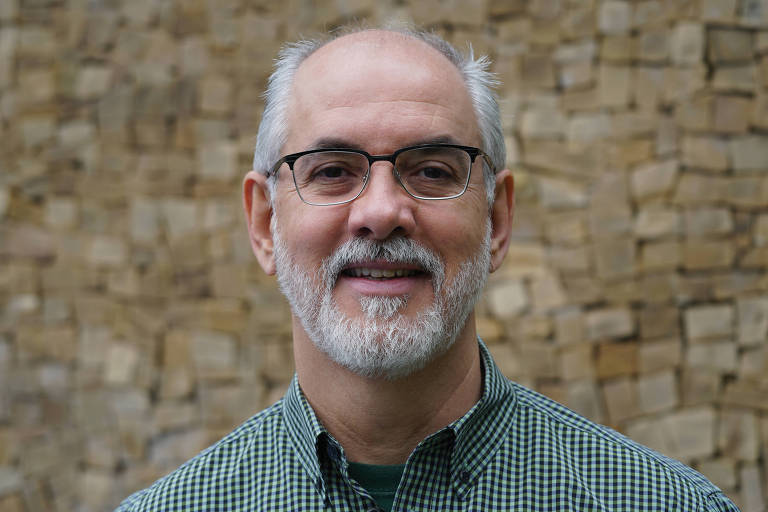
O espiritismo, segundo o autor, ganhou contornos religiosos no Brasil, mas é em sua origem uma "doutrina filosófica" que tem a "parte experimental das manifestações", que seriam os contatos de espíritos.
Aqui valem as palavras de Kardec: "Ora, todos os dias sou visitado por pessoas que nada viram e creem tão firmemente como eu, apenas pelo estudo que fizeram da parte filosófica; para elas o fenômeno das manifestações é acessório e o fundo é a doutrina, a ciência".
A roupagem religiosa, contudo, vingou por aqui, a ponto de espiritismo ser uma das crenças listadas no Censo.
O quinhão espírita na população já foi maior, aliás. O levantamento demográfico apontou que, se em 2010 eram 2,2% dos brasileiros, caíram para 1,8% em 2022 —de 3,8 milhões de pessoas para 3,2 milhões.
Caldini Neto tem algumas hipóteses para o fenômeno.
Ao longo do século 20, o espiritismo conquistou a simpatia do país, com um caráter dócil e ativo na caridade. "Passou a ser visto como uma religião, coisa que afirmo, citando Kardec, não é".
Aí entra um componente de intolerância histórica com crenças de matriz africana. "Apesar de igualmente fazerem a caridade e promoverem o bem", e também terem como base a mediunidade, "sempre sofreram muita discriminação".
Então acontecia direto de umbandistas ou candomblecistas se declararem espíritas "buscando fugir do estigma". Nos anos últimos, movimentos de valorização da cultura negra, ele afirma, levou adeptos a "finalmente se sentirem mais seguros e orgulhosos para assumir suas religiões".
O estudioso também conjectura que a doutrina espírita, "do modo como foi sendo configurada no Brasil, religiosa e conservadora, não se comunica bem com os dias atuais e ainda menos com as gerações mais novas".
Uma coisa é o pensamento legado por Kardec, que "traz lógica, serenidade, estudo, autonomia", diz o autor. Outra bem diferente é a religiosidade presente nos romances que médiuns brasileiros dizem psicografar, que viriam encharcados de "maniqueísmo, moralidade, julgamento".
O autor detecta uma abordagem "muito arrogante e inclemente" dos espíritas brasileiros em geral sobre tópicos facilmente polarizantes, como aborto, direitos LGBTQIA+ e eutanásia. "Tratamos esses graves assuntos de forma incoerente e em total desacordo com temas estruturantes do espiritismo, como o respeito ao livre-arbítrio, a reencarnação e a compaixão."
Um olhar atento ao que Kardec escreveu no século 19, na interpretação de Caldini Neto, inviabiliza qualquer preconceito com a homossexualidade, por exemplo. Os espíritos, escreveu o europeu, não têm sexo "como o entendeis, porque o sexo depende do organismo físico", e eles não são feitos de carne. Pondera Caldini Neto: "Se quem ama é o espírito, não o corpo, qual o problema em dois espíritos se amarem, independentemente dos corpos que utilizam naquele momento?"
O aborto talvez seja o mais minado dos campos. Kardec é claro ao afirmar, no que seria uma resposta que espíritos lhe teriam soprado: "A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser instrumento".
Mas há sutilezas nessa questão, argumenta o escritor. Kardec também diz no livro máximo do espiritismo que a união entre alma e corpo "começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento", e que "o grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus".
Ao apresentar uma leitura menos dolosa do aborto, Caldini Neto afirma que, "durante a gravidez, o espírito designado para esse corpo vive fora dele, estando ligado, mas não ativo no feto". Haveria apenas vida biológica, e não espiritual, no feto, portanto.
Ele recorre a dados como o fato de 6 em cada 10 vítimas de abuso sexual no Brasil serem menores de 14 anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Seriam criminosas se abortassem filhos de seu violador?
"É bom frisar que ninguém é a favor do aborto. Eu tampouco. Mas existem situações em que o trauma do aborto talvez seja a solução menos ruim. E, do ponto de vista do espírito, é uma oportunidade perdida que terá que ser recomeçada."
O autor , que fez carreira no universo executivo e já presidiu a Editora Abril, diz ter uma "visão mais contemporânea do espiritismo", mas discorda do adjetivo progressista para ele. "Sou espírita e pronto."
Mas admite um "espiritismo aberto, progressivo e, aqui sim cabe o termo, progressista" ao conciliar a doutrina com a ciência. "O espiritismo não é uma revelação divina imutável e inquestionável, mas uma filosofia de elaboração coletiva, de espíritos. Kardec disse claramente que, conforme a ciência avançar, se algum preceito do espiritismo se mostrar em erro, o espiritismo deve se corrigir."
É o caso, para ele, do uso medicinal de princípios ativos extraídos da maconha, como o canabidiol, eficientes para tratar males como dores e convulsões e adotado em casos de Alzheimer. Se for para "ajudar o ser humano a minimizar seu sofrimento, viver melhor e progredir", diz, o espiritismo está dentro. Ao menos aquele em que acredita.
A essência do espiritismo
- Quando Lançamento nesta quarta (6/8), das 19h às 21h30
- Onde Livraria da Vila - Shopping JK Iguatemi (av. Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo)
- Telefone (11) 5180-4790
- Preço R$ 59,90 (352 págs.)
- Autoria Alexandre Caldini Neto
- Editora Sextante/GMT
- Link: https://sextante.com.br/products/a-essencia-do-espiritismo