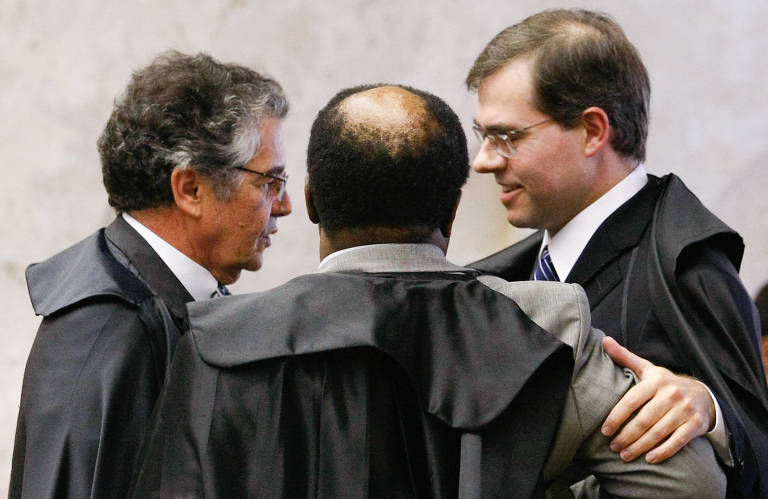A forma como o meio ambiente, as populações indígenas, as minorias e os menos favorecidos são atualmente tratados só pode ser compreendida como uma estratégia colonial
“Não me ocorre nada sobre Hitler”, escreveu Karl Kraus em 1933. Isso era bastante incomum. Kraus, um jornalista e satirista austríaco de origem judaica, passara as primeiras décadas do século 20 fustigando toda e qualquer autoridade em sua revista Die Fackel (que editava sozinho e escrevia a maior parte dos artigos). Não sobrava para ninguém: políticos, celebridades, autores cheios de pose, estrelas do teatro. Enfim, qualquer um que andasse se pavoneando pelas calçadas da cultura germânica corria o risco de escorregar na casca de banana do autor. Mas em 33 ele ficou mudo. A aparição de Adolf Hitler no cenário político ia além de qualquer chiste. Era o indizível, o terror puro, inarticulado e paralisante. Kraus via em Hitler muito mais do que o bufão agressivo que se projetava na imprensa da época e arrastava multidões para seus comícios. De alguma forma ele intuiu a chegada do horror em estado bruto. Algo que nosso vocabulário usual não tem como dar conta.
A estética bolsonarista parece buscar esse mesmo grau de indizível. Desde a campanha para a presidência, em 2018, Jair Bolsonaro e seus asseclas procuram minar toda a tentativa de racionalizar o processo de autodestruição – ético, social, cultural – levado a cabo no Brasil. A saraivada diuturna de notícias falsas, memes, declarações peremptórias, iconografia repulsiva e desmentidos (todos com origem na gramática do gangsterismo fluminense) parece barrar qualquer vislumbre de humanidade. Poucas vezes na história contemporânea um círculo de poder (o presidente, seus filhos, um bando de políticos oportunistas) adotou esse nível de comportamento sobre seu próprio povo. Só é possível entender o processo por meio de duas analogias (que não são excludentes, muito antes pelo contrário): o colonialismo e o câncer.
A forma como o meio ambiente, as populações indígenas, as minorias e os menos favorecidos são atualmente tratados só pode ser compreendida como uma estratégia colonial. Explorar, deixar por terra, abandonar. A economia colonial sempre foi, em qualquer lugar, a busca da precarização local. A maneira como o corpo da nação vem sendo degradado dia após dia, a progressão alucinante com que o Brasil vem sendo roído por dentro, só encontra paralelo no processo metastático. É o país, são os corpos, são as nossas mentes. Experimentamos várias mortes nas 24 horas do dia. E a pandemia se mostrou a oportunidade perfeita para essa autodestruição coletiva, de dentro para dentro.
É possível imaginá-lo arrastando o par de Rider pelos salões enquanto encaminha alguma notícia falsa no WhatsApp para sua claque
*
Jair Bolsonaro, com sua franjinha à Führer, seus esgares convulsivos quando algo lhe desagrada, seu vocabulário limitado e seus parcos recursos cênicos sempre viveu na obscuridade. Durante anos era apenas um político de meia tigela e paroquial, lançando mão de pequenos expedientes para acumular benefícios dentro da carreira no Congresso. Mas teve a sorte de contar com um clima cultural favorável, nos últimos 15 anos, ao aberrante e à distorção. A estética da tosquice, que ganhou espaço na internet e em programas televisivos (como o “CQC” e “Pânico”) que, a pretexto de satirizá-lo, ofereciam um palanque para seus despautérios. Aí está a “origem do mito”, muito mais do que o mito da origem. Porque Bolsonaro é justamente o contrário: é um fim em si mesmo. Seu triunfo será sempre nossa falta crescente de apetite para confrontá-lo. Ele é um “artista da fome” em busca da nossa anorexia política.
Não é novidade que, nas horas mais informais no Planalto, Bolsonaro tenha adotado o uniforme do tio do churrasco, esse torturador (do corpo e da alma) aposentado: camisas de time de futebol, calças de moletom, chinelos. É possível imaginá-lo arrastando o par de Rider pelos salões enquanto encaminha alguma notícia falsa no WhatsApp para sua claque (risinhos sádicos). Sua aparente nonchalance, calculada sempre desde o infame pão com leite condensado e a coletiva presidencial sobre a prancha de bodyboard, é uma estética de ressentimento, outra face da mesma operação colonial: não é a Brasília de Niemeyer, não é mais a “Sinfonia do Alvorada” de Tom e Vinicius, não são as formas de Atos Bulcão. Tudo isso é coisa de esquerdinha, que precisa ser solapado por aquilo que ele chama – fascistamente – de “cultura raiz”. A arte local deve ser esmagada em nome dos valores pretensamente corretos. Nem Mussolini na Etiópia foi tão bem-sucedido.
*
A feiura humana de Bolsonaro e sua gangue. Sua falta de ilustração. O episódio da facada, ainda envolto em certo mistério e especulação, mostrou ao Brasil o tipo de gentinha que compõe seu círculo. Pistoleiros da política, pastores da fé monetária, nostálgicos do Dops. Pessoas que usam prendedor de gravata em forma de fuzil e que gargalham com videocacetadas, sejam de alguém tropeçando no meio-fio, sejam de registros visuais de esculachos da polícia nas comunidades mais carentes. “No ocaso do mundo, eu quero viver uma vida reservada”, escreveu Karl Kraus no mesmo artigo em que dizia ser impossível falar de Hitler.
Ainda não podemos nos dar a esse luxo.
LEANDRO SARMATZ é conhecido por seu senso estético apurado, que pode ser notado em seu guarda-roupa diário e na curadoria de imagens que eventualmente faz no Instagram. É autor de “Logocausto”, de poemas, e “Uma Fome”, de contos. É editor na Todavia