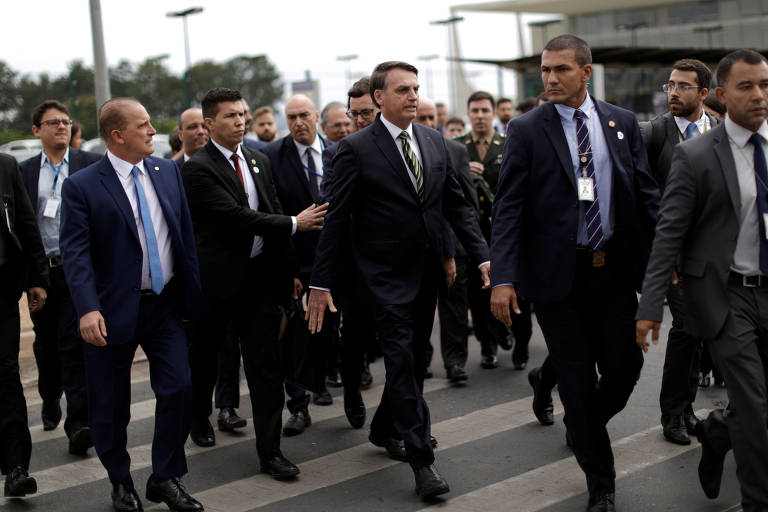Edgar Morin é um dos mais importantes e relevantes pensadores vivos. Aos 98 anos, segue escrevendo e expondo ideias em conferências em universidades e eventos.
O francês de origem judaica é um grande intelectual público, sempre disposto a participar do debate, seja ele sobre o conflito na Palestina, cinema, transgênicos, aquecimento global ou imigração.
Morin deve boa parte de seu sucesso ao pensamento complexo, conceito defendido por ele segundo o qual o conhecimento só é possível pela transdisciplinaridade.
Essa ideia impactou o pensamento sobre educação no mundo todo. Tanto que, em 1999 foi convidado pela Unesco a escrever um livro explicitando as modificações que julga necessárias na educação: Os Sete Saberes Necessários à Educação no Futuro, disponível em português.
No Brasil para uma conferência sobre prazer estético e arte, ele conversou com a Folha de S.Paulo sobre temas como arte, criatividade, democracia e identidade. Confira abaixo a entrevista com Edgar Morin:
O senhor frequentemente fala da prosa e da poesia na vida, sendo a prosa a sobrevivência, o cotidiano do que somos obrigados a fazer, e a poesia, as relações de afeto, o jogo. O espaço da poesia está diminuindo e a prosa está ganhando?
Edgar Morin: Ela não poderá jamais vencer totalmente, mas eu diria que a prosa fez progressos consideráveis com a industrialização não só do trabalho mas da vida, com a burocratização que encerra as pessoas num pequeno espaço especializado, com a técnica, que se serviu tanto dos homens quanto dos materiais.
Mas há uma resistência da poesia na vida privada, nas relações amorosas, de amizade, nos afetos, no prazer do jogo, no futebol, por exemplo. Há momentos de ambiguidade e devemos resistir a esse progresso enorme da prosa, que significa uma degradação da qualidade de vida.
O senhor tem uma conta bastante ativa no Twitter; ela é uma ferramenta de divulgação de seu trabalho?
Edgar Morin: É uma forma de me expressar, de expressar ideias que me ocorrem, reações que tenho frente a acontecimentos e de uma forma muito concentrada. É um exercício de estilo, que permite que eu expresse e comunique aos outros o que penso e vejo em diferentes momentos do dia.
O senhor fala de um mundo padronizado, uniformizado. Como ficam o pensamento e a arte?
Edgar Morin: Vivemos uma crise do pensamento. Aprendemos em nosso sistema de ensino a conhecer separando as coisas de maneira hermética segundo disciplinas. Os grandes problemas, porém, requerem associar os conhecimentos vindos de disciplinas diversas. Isso não é possível dada a lógica que comanda nosso modo de conhecer e de pensar.
Temos uma crise do pensamento que se manifesta no vazio total do pensamento político, ainda que, há coisa de um século, houvesse pensadores políticos que, mesmo quando se equivocavam, tentavam compreender o mundo, como Karl Marx e Tocqueville.
Meu esforço nas minhas obras é tentar efetivamente esse pensamento. O que estamos vivendo? O que está acontecendo? Para onde estamos indo? Claro que não posso fazer profecias, mas vejo o risco nas possibilidades que se abrem diante de nós.
Qual o maior desafio do ensino?
Edgar Morin: Não inserimos no programa temas que podem ajudar os jovens, sobretudo quando virarem adultos, a enfrentar os problemas da vida. Distribuímos o conhecimento, mas não dizemos que ele pode ser uma forma de traduzir a realidade e que podemos cair no erro e na ilusão.
Não ensinamos a compreensão do outro, que é fundamental nos nossos dias, não ensinamos a incerteza, o que é o ser humano, como se nossa identidade humana não fosse de nenhum interesse. As coisas mais importantes a saber não se ensinam.
O senhor disse em uma conferência recente que a democracia ficou rasa e que a consciência democrática está degradada. Esse diagnóstico vale para o mundo todo? Como chegamos a isso?
Edgar Morin: Chegamos progressivamente, primeiro porque as antigas concepções políticas se deterioraram e chegamos a uma política da urgência e do imediato. E, como sempre digo, ao sacrificar o essencial pelo que é urgente, acaba-se por esquecer a urgência do essencial.
A crise da democracia se deve aos enormes poderes do dinheiro terem levado a casos de corrupção em todo lugar. O vazio do pensamento, somado a essa corrupção, leva a uma perda de confiança na democracia, e isso favoreceu os regimes neoautoritários, como vimos na Turquia, Rússia, Hungria e como vemos agora na crise da democracia no Peru e no Brasil.
A regressão histórica começou muito fortemente com os anos Thatcher e Reagan, que no fim do século passado impuseram a regra do liberalismo econômico absoluto, como se as leis da concorrência pudessem regrar e melhorar todos os problemas sociais, mas isso só favoreceu a especulação e a força do dinheiro, que controla a política.
A crise da democracia é o controle do poder político pelo poder financeiro, que é cego, que vê só os interesses imediatos, não tem consciência do destino da humanidade. A prova é a degradação da biosfera, que é evidente, e que vemos na degradação da Amazônia ou na poluição das cidades, por exemplo, mas que é ignorada em detrimento de um benefício imediato. Assim, damo-nos conta de que vivemos em uma época de cegueira e de sonambulismo. Isso participa na crise da democracia.
Eu vivi —sou muito velho, como sabe— nos anos 1930 e 1940, um período da ascensão da guerra, vínhamos de uma época em que acreditávamos estar em paz, mas numa crise econômica enorme que provocou a chegada de Hitler ao poder por vias democráticas.
Vivemos esse período como sonâmbulos, sem saber que íamos em direção ao desastre. Continuamos como sonâmbulos e estamos indo rumo ao desastre, em condições diferentes. O que é certo é o desastre ecológico, e o desastre dos fanatismos.
A menos que as pessoas tomem consciência da comunidade de destino dos humanos sobre a Terra, as pessoas se fecharão em suas identidades religiosas, étnicas etc. Vivemos um período obscuro da história, a única consolação é que esses períodos obscuros não são eternos.
Vemos hoje uma política das identidades. Como conciliar a democracia, o espírito republicano e as lutas identitárias?
Edgar Morin: Uma nação é sempre a unidade de diversidades. Se não se vê a unidade, ela se empobrece e perde sua diversidade, e se só se vê a diversidade, ela perde a unidade. O comunitarismo é uma forma degenerada da diversidade necessária, é uma forma fechada para uma demanda justa de se manter ligado a suas origens. Infelizmente hoje perdemos a noção de unidade. Quando as comunidades se tornam importantes, elas esquecem a unidade nacional na qual se encontram.
Estamos numa época de interdependência. Concordo que as nações devam seguir soberanas, mas com soberania relativa, e não absoluta. Desde que haja um problema que diga respeito a toda a espécie humana, as nações deveriam subordinar seus interesses ao interesse coletivo.
O senhor já disse algumas vezes que o sul global, como chama, representa um pensamento anti-hegemônico. Ainda é o caso com a globalização?
Edgar Morin: A globalização é a hegemonia dos valores do norte sobre o sul, é a continuação, por meios econômicos, da colonização, que era política. O sul deve resguardar o que conseguir —como os modos de viver— como resistência à hiperforça da técnica, do lucro, do sucesso, e deve conservar a noção de poesia na vida, essa é a missão do sul.
Como fazer isso em países pobres, de democracias instáveis, países menos expressivos no jogo político global?
Edgar Morin: Não há uma receita. É preciso resguardar o que há de resistência, valores universalistas, humanistas e planetários, guardá-los enquanto preparamos tempos melhores.
Estamos num movimento perpétuo no qual há um conflito entre as forças de união, de abertura, de democracia, fraternidade, e as forças de luta, de desprezo, de degradação e de morte. Esse conflito, como dizia Freud, entre Eros e Tânatos, é um conflito que existe desde o começo do universo e vai continuar. A questão é saber de que lado se está. Essa é a única questão, o futuro ninguém conhece.
Como pensar modos de combater as fake news?
Edgar Morin: As fake news não têm nada de novo, sempre houve notícias falsas. Durante uma dezena de anos a União Soviética dava informações falsas sobre o que acontecia com ela, a China de Mao Tse-tung também, o sistema hitlerista escondeu os campos de concentração. As mentiras políticas e as notícias falsas não são novas, são banais, o novo é a internet, a difusão de notícias que podem vir de qualquer lugar.
O problema é que, se quisermos informar o mundo, precisamos de pluralidade de fontes de informação e pluralidade de opiniões. Precisamos de uma imprensa diversa, com opiniões diversas, para que possamos fazer escolhas. Quando a imprensa perde sua diversidade, quando ela é controlada pela força do dinheiro, há uma diminuição do conhecimento e da informação.
O senhor sempre menciona o deus espinosano, que é intrínseco ao mundo, e não exterior a ele. Mesmo com toda a técnica e ciência que temos, as pessoas seguem com suas crenças num deus transcendental...
Edgar Morin: Todas as sociedades, desde a pré-história, têm uma religião, uma crença na vida após a morte. A religião traz pela reza um sentimento que dá calma. Marx tinha razão ao dizer que a religião é o suspiro da criatura infeliz.
Com a morte do comunismo, houve um retorno das religiões. Temos o retorno dos evangélicos aqui no Brasil, do islamismo. Nos países árabes houve movimentos laicos enormes, mas tudo deu errado. A religião ganha onde a democracia falha, a revolução fracassa, o mundo moderno falha. A religião triunfa no fracasso da modernidade.
Como aceitar a incerteza e lidar com a angústia ou até mesmo o cinismo que advém disso?
Edgar Morin: Mais do que sucumbir à incerteza, que nos dá angústia e medo, e que nos leva a buscar culpados e bodes expiatórios, é preciso enfrentar a incerteza com coragem, com ideias humanistas de fraternidade. As ciências acharam formas de encontrar certezas em incertezas. Eu digo sempre que a vida é uma navegação num oceano de incertezas passando por arquipélagos de certezas. Assim é a vida, não se pode mascarar a realidade.
Às vésperas de completar 98 anos, o que o estimula a continuar escrevendo e dando conferências?
Edgar Morin: Há um demônio em mim, uma força no meu interior de intensa curiosidade. Eu conservei uma curiosidade da infância —eu tive um grande choque aos dez anos com a morte da minha mãe, eu envelheci muito, mas também isso me bloqueou na infância com a curiosidade e o amor pelo jogo. A sorte do mundo é cada vez mais incerta, não sabemos aonde vamos, então não podemos não estar preocupados com o futuro da espécie humana sobre a Terra.
Ainda há lugar para utopias?
Edgar Morin: Há duas utopias. A má e a boa. A má é sonhar com uma sociedade perfeita, totalmente harmonizada; isso não é possível. Mesmo numa sociedade melhor, sempre haverá conflitos. A perfeição não está no universo, não está na humanidade.
A boa utopia é sonhar com coisas impossíveis mas que são, de certa forma, possíveis intelectualmente. Por exemplo, hoje há muita fome, mas poderíamos alimentar toda a humanidade, basta desenvolver as culturas, a agricultura orgânica. É possível criar uma sociedade nova com a paz sobre a Terra, podemos pensar no fim dos conflitos entre nações; essa é uma boa utopia. Um mundo que não seja totalmente dominado pelo poder econômico e que seja mais fraterno — é preciso ainda ter utopias.
(Via Folha)