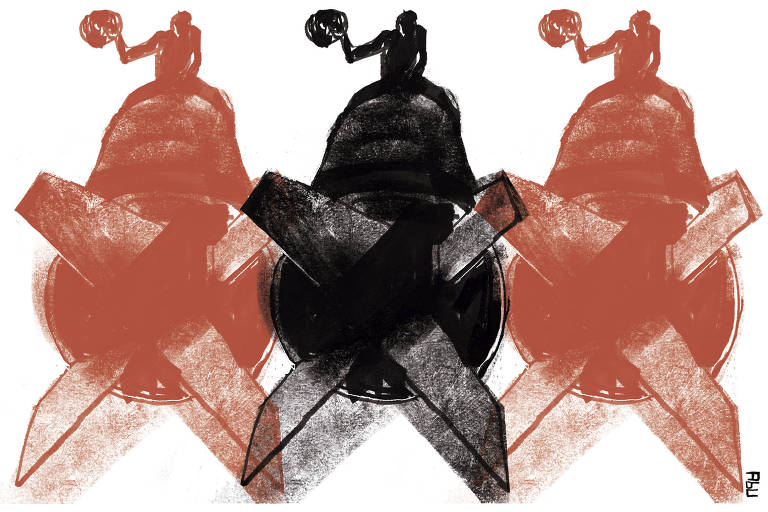Parte da elite brasileira ainda acredita que a educação seja uma espécie de equalizador universal para desigualdades. E olha... nas últimas décadas, tivemos bons avanços nessa área. Políticas de democratização e expansão do ensino superior, por exemplo, ajudaram a reduzir uma parte do fosso entre brancos e não brancos entre aqueles que conseguiram chegar e concluir essa etapa da formação.
Apesar disso, as evidências têm mostrado que o diploma não basta. Ele sozinho não é capaz de acabar com o custo do preconceito.
Em estudo recente conduzido por Alysson Portella, do qual também participei (realizado no âmbito do Núcleo de Estudos Raciais do Insper e publicado na revista The Journal of Development Studies), partimos de algo que a literatura já tem destacado há algum tempo: os diferenciais de renda entre brancos e não brancos persistem mesmo após levar em consideração a escolaridade.
Os trabalhadores não brancos ganham, em média, 31% a menos por hora do que brancos. Entretanto, quando levamos em consideração o nível de escolaridade, a diferença cai para cerca de 27%. Uma queda expressiva, mas ainda assim a disparidade remanescente é ampla demais para ser atribuída apenas ao acaso.
Porém, o que é a média em um país tão desigual? Se olharmos só para ela, podemos esconder grandes disparidades. E é justamente isso que acontece. Ao examinarmos a desigualdade ao longo da distribuição de renda, mostramos um curioso padrão: as disparidades são maiores entre os mais pobres, muito maiores entre os mais ricos e menores no meio da distribuição, precisamente onde o salário mínimo serve como piso.
Entre os 5% mais ricos, quando levamos em consideração a escolaridade, a diferença de renda entre não brancos e brancos sobe bastante, alcançando cerca de 65%. Ali, no topo da distribuição de renda, variáveis como ter estudado em escola privada ou possuir pós-graduação explicam parte relevante da diferença salarial. Isso sugere que o acesso desigual à educação de qualidade potencialmente fornecida por parte das escolas privadas, assim como as redes de contatos geradas nesses espaços, continua moldando o mercado de trabalho.
Concluímos destacando que o Brasil precisa olhar além do ingresso universitário. Parte das desigualdades de oportunidade se intensifica já no acesso da população negra em uma educação básica pública que, em muitos casos, apresenta pior qualidade e se amplia nos degraus finais da elite educacional, onde os contatos e as pós-graduações privadas funcionam como portas de entrada importantes para bons empregos.
Entretanto, no final, mais inquietante ainda é o que o estudo não explica. Pois mesmo após controlar por todas as variáveis observáveis que temos disponíveis, parte importante da diferença salarial, especialmente no topo da distribuição, permanece "inexplicada", o que pode representar um eufemismo estatístico para discriminação racial. Essa é a parcela que nenhuma educação formal parece estar sendo capaz de resolver, pois parte substantiva de nossa desigualdade não é apenas sobre formação, mas sobre inserção e reconhecimento.