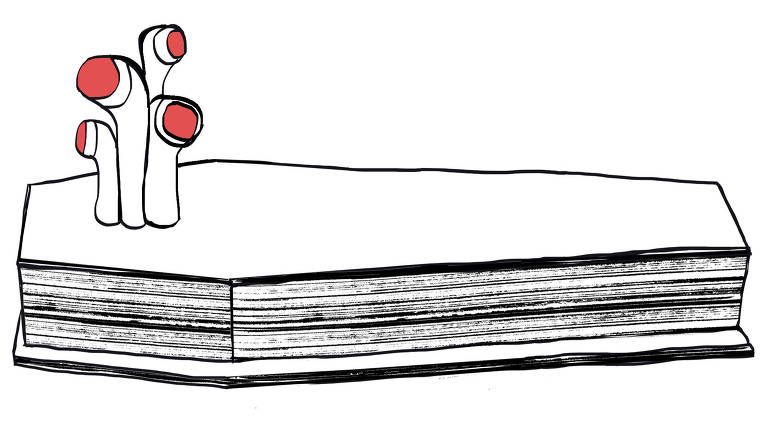Baltazar Lemos, 60, natural de Curitiba, decidiu morrer. Explico melhor. Ele, um cerimonialista de luto com certa experiência em preparar e testemunhar o funeral dos outros, decidiu organizar um funeral só para ele.
Fingiu doença, fingiu morte, fingiu velório –tudo publicitado pelas redes sociais, claro– e esperou para ver quem aparecia.
Vieram amigos. Vieram familiares. E até veio o próprio Baltazar, para agradecer aos presentes. Não sei se saltou do caixão para causar maior impacto, mas quero muito acreditar que sim.
Os presentes não gostaram da brincadeira. Consta até que houve insultos e agressões físicas dentro da capela. Creio que a família cortou relações com ele.
Li tudo isso na imprensa. É bom demais para ser verdade. Mas, acreditando na história, posso enviar um abraço fraterno ao nosso Baltazar?
Também eu, pobre homem, tenho essa curiosidade mórbida desde a mais tenra idade. Quantos serão, afinal, prestando suas homenagens?
E quantos vão contar piadas, soltar risinhos cínicos, fazer comentários impróprios sobre minha aparência amarelada?
Os epicuristas, para aliviar nosso medo da morte, tinham uma máxima conhecida: onde eu estou, a morte não está; onde a morte está, eu não estou.
Faz sentido. Mas para personalidades narcísicas –estou falando de nós, Baltazar– isso não consola; perturba. Se eu não estou lá, como saber quem está?
Infelizmente, essa dúvida não revela nada sobre os outros, muito menos sobre a bondade deles. Velórios são acontecimentos sociais, como casamentos e batizados.
Vamos porque temos de ir. Vamos porque os outros, os vivos, os sobreviventes, esperam isso de nós. Vamos porque existem mil interesses em jogo –reputações, heranças, boa gastronomia, uma súbita viúva– que convidam ao supremo sacrifício.
Se Baltazar queria realmente testar a lealdade da sua tribo, teria sido mais útil simular um internamento no hospital. Quantos familiares e amigos caminhariam até sua cama enferma sem esperar nada em troca?
A pergunta é válida para qualquer um de nós. E é talvez a pergunta mais importante para medir a nossa hipótese de felicidade terrena: quão fortes são as nossas amizades?
Recentemente, o "Wall Street Journal" divulgou o mais longo estudo alguma vez feito sobre o assunto. Começou em Harvard, em 1938, com centenas de participantes, todos rapazes, respondendo a questionários sobre o grau de satisfação com a vida.
Nos anos seguintes, o estudo continuou a medir a felicidade dos rapazes, mas incluiu também as mulheres; com o tempo, alargou-se para os mais de 1.300 descendentes do grupo original.
As conclusões estão no livro "The Good Life: Lessons from the World’s Longest Scientific Study of Happiness" (Simon & Schuster), de Robert Waldinger e Marc Schulz.
Aqui vai um aperitivo: esqueça o jogging, a comida vegana, a meditação oriental. Esqueça também a riqueza, a fama e outras ilusões mundanas.
Nesses quase 90 anos de acompanhamento constante, a principal conclusão é que a saúde e a longevidade são fortalecidas de forma dramática pelos amigos que somos capazes de manter.
Se tivermos boas relações, o corpo e a mente agradecem.
Inversamente, os mais solitários tiveram existências mais pobres e curtas, em média, porque a solidão é corrosiva para nossas pobres carcaças.
Explicam Robert Waldinger e Marc Schulz que há razões evolutivas para isso: quando nossos antepassados ficavam sozinhos no mundo, o estado de alerta era ativado. A sobrevivência dependia disso: como dormir tranquilo quando um predador poderia aparecer a qualquer momento?
Hoje, pode não haver uma fera para nos devorar; mas quando estamos por nossa conta, o corpo e a mente continuam lá atrás, libertando seus hormônios estressores, em dolorosa vigília.
Segundo os autores, uma existência despojada de gente pode ser mais perigosa do que a obesidade, sobretudo para os mais velhos. Se essa solidão é crônica, o risco de morte aumenta 26%.
Sim, o poeta tinha razão: ou amamos ou morremos.
É por essa razão que o nosso amigo Baltazar faria bem em pedir desculpas, de joelhos, aos crédulos que foram chorar sobre o seu caixão. A falta que eles fazem é agora, não depois.