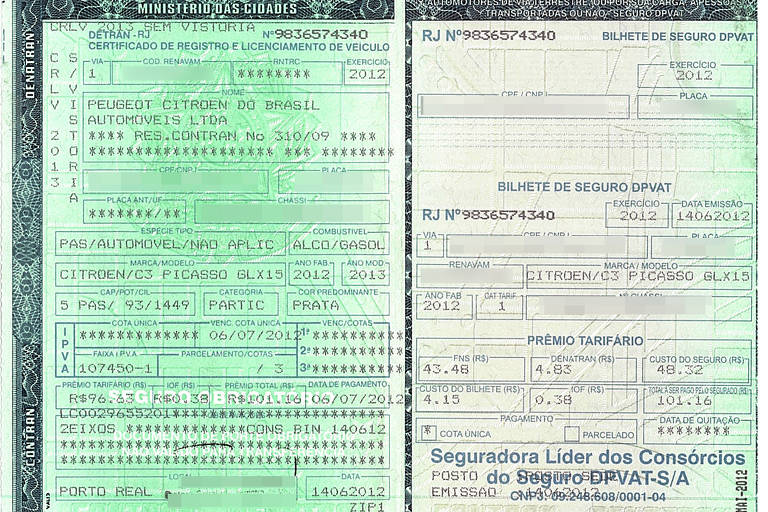Garantia de direitos não é sinônimo de gestão estatal de serviços
O debate em torno do Fundeb está em pauta no Congresso. Ele não diz apenas respeito ao financiamento da educação brasileira, mas também à definição sobre como se fará a gestão de nossas escolas. Isto é: como se fará para garantir que o direito à educação básica, inscrito na Constituição, seja efetivo.
Há temas que mereceriam especial atenção no parecer apresentado pela deputada Professora Dorinha, relatora da PEC do Fundeb. Um deles é a determinação de que no mínimo 70% dos recursos do fundo sejam aplicados, nos estados e municípios, no pagamento de “profissionais da educação em efetivo exercício”.
Mais do que criar um engessamento impróprio para um país continental e diverso como o Brasil (como saber se daqui a dez anos, nos 5.570 municípios brasileiros, será esse o percentual requerido?), a redação parte da premissa, que parece implícita no projeto, de que a oferta da educação básica será necessariamente estatal.
Caso aprovada, teríamos uma contradição com o artigo 213 da Constituição, que trata do uso dos recursos públicos para a educação. O parecer sugere que o referido artigo trata a gestão via parcerias com o setor publico não estatal (escolas filantrópicas, confessionais e comunitárias) como “exceção”, e não como uma possibilidade aberta aos gestores das redes públicas de educação.
Há um claro equívoco aí. As restrições estabelecidas pelo constituinte para esse tipo de gestão por contratos são bastante precisas e dizem respeito à natureza filantrópica, isto é, sem fins lucrativos, das instituições. A condicionante mencionada no parecer, relativa à falta de vagas nas redes públicas, diz respeito ao mecanismo de oferta de bolsas de estudo.
De modo resumido, a Constituição determina que modelos de bolsas (ou “voucher”) são excepcionalidades. Parcerias e contratos de gestão com instituições sem finalidade lucrativa são uma opção aberta aos gestores públicos.
É este o sentido dado pelo artigo 213: recursos serão destinados ao sistema A, podendo ser dirigidos ao sistema B. Fosse o contrário, o constituinte o teria explicitado. Como ocorreu com a saúde pública. O artigo 199 da Constituição prevê que as instituições privadas poderão participar “de forma complementar” do Sistema Único de Saúde.
No âmbito da educação, o modelo é misto, estatal ou não estatal, desde que com escolas sem fins lucrativos. A questão central é saber como essa escolha será feita. É com isso que deveríamos nos preocupar. Em saber o que funciona, a partir do que a Constituição faculta, em vez de tentar fixar a qualquer custo o monopólio deste ou daquele modelo de gestão.
Modelos de gestão evoluem através do tempo. O Brasil é exemplo disso. Após a Constituição de 88, criamos a lei das concessões, em 1995; das organizações sociais, em 1998; das PPPs, em 2004, e ainda recentemente instituímos o novo marco da sociedade civil, com a lei 13.019/14, que permite um amplo espaço de colaboração entre setor público e o terceiro setor.
Ou seja, o próprio ordenamento legal brasileiro evoluiu, ao longo das últimas três décadas, gerando novas alternativas de gestão. Essas alternativas são usadas hoje na saúde pública, área ambiental, social, saneamento básico e virtualmente em todas as atividades que não integram as chamadas funções exclusivas de estado.
Por que essas alternativas deveria ser excluídas, prima facie, da educação? Com base em que evidência empírica? Não me parece que elas viriam dos ótimos resultados que nosso modelo de monopólio estatal vem apresentando, não é mesmo?
Congelar um modelo de gestão da educação pública no texto da Constituição é um equívoco para o país. Garantia de direitos não é sinônimo de execução estatal de serviços, nem o seu contrário. Precisamos estar abertos ao que se passa no mundo, saber o que funciona, observar dados empíricos não apenas na teoria, mas na prática.
Reescrever desse jeito a Constituição brasileira é uma enorme precipitação. O Congresso deveria refletir sobre isso.