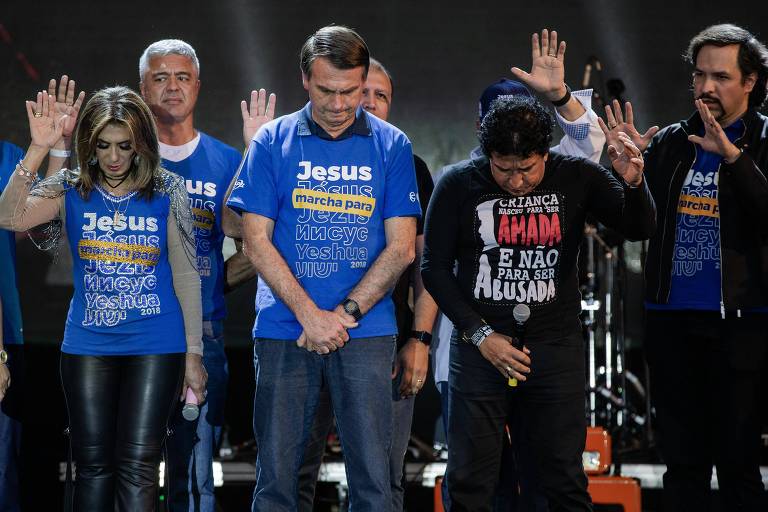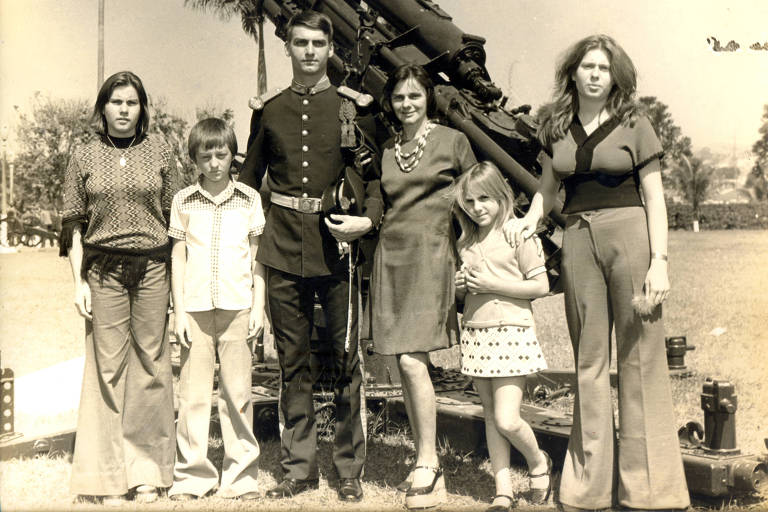A dívida pública, aferida pela Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), chegou a R$ 5,9 trilhões, ou 81,9% do PIB, em maio, recorde da série histórica. A Instituição Fiscal Independente (IFI) estima que esse percentual ultrapassará 96% do PIB neste ano e continuará subindo nos anos seguintes.
A dívida mobiliária e as operações compromissadas correspondem a 90% da dívida pública. Ambas são de responsabilidade da União e consistem em títulos públicos em poder do público.
Contudo, existem diferenças importantes entre elas. A mobiliária é gerida pelo Tesouro Nacional e tem como objetivo financiar o déficit público e providenciar o refinanciamento do passivo sem sobressaltos.
Já as compromissadas são geridas pelo Banco Central e correspondem à venda de títulos públicos da sua carteira, com o compromisso de recomprá-los em curto prazo. A sua gestão se orienta pelo controle da liquidez da economia, de modo a garantir que a Selic, a taxa de juros básica, se mantenha em nível compatível com a meta de inflação.
Ao perseguir seus objetivos, a gestão da dívida mobiliária afeta as compromissadas. O déficit público e/ou o montante de papéis resgatados no vencimento podem não ser compensados pela emissão de títulos, o que leva o Tesouro a sacar recursos da sua conta única no Banco Central. Esses saques, como consequência, impactam a liquidez da economia e obrigam o Banco Central a realizar compromissadas.
As compromissadas não são uma invenção nacional, mas a relevância alcançada aqui não encontra paralelo em outros países. De 2,5% do PIB, em 2006, alcançaram 17,5% do PIB, em 2017. Depois de uma expressiva redução, em 2019, subiram novamente, durante a pandemia, de 13,9%, em fevereiro, para 18,1% do PIB, em maio. Em junho, devem ter chegado aos 19% do PIB.
Recorrendo-se aos números relativos aos condicionantes da base monetária, fornecidos pelo Banco Central, pode-se constatar que as compromissadas cresceram especialmente por conta dos saques na conta única, R$ 408,6 bilhões, no acumulado de março a junho, exclusive operações com títulos públicos. Ao mesmo tempo, os resgates desses papéis no vencimento superaram as emissões em R$ 42,2 bilhões. Como resultado, as compromissadas subiram R$ 368,1 bilhões.
Esse último número não corresponde à soma dos dois anteriores por conta da ação de outras operações feitas pelo Banco Central, não relacionadas com o Tesouro Nacional, como venda de reservas externas, depósitos recebidos e empréstimos concedidos a instituições financeiras, operações de swap cambial e aquisição de ativos. Contudo, a redução das compromissadas propiciada pela venda de reservas compensou o efeito somado dos outros três fatores.
Restou o aumento de R$ 78,5 bilhões da base monetária no período, um “almoço grátis” ao evitar a expansão das compromissadas em igual montante. Esse aumento pode ter decorrido de uma maior demanda por moeda pelo público, no contexto excepcional da crise.
As compromissadas deverão subir mais nos próximos meses, mesmo com a continuidade das elevadas emissões líquidas de títulos públicos iniciadas em maio. Isso porque os déficits primários mensais também serão elevados, próximos de R$ 95 bilhões, em média, tomando-se por base os números já divulgados e as projeções para este ano.
Há que considerar também o potencial efeito de outros fatores sobre as compromissadas, a exemplo da concessão de empréstimos a instituições financeiras e da compra de títulos públicos e privados no mercado secundário, autorização dada pela Emenda Constitucional 106, de 2020. Mas esse assunto envolve o nosso “Quantitative Easing” e requer atenção exclusiva.
No Brasil, as compromissadas tornaram-se mais relevantes do que talvez fosse desejável. O país terá que lidar com esse problema no futuro. Outros temas importantes associam-se a esse, como a criação de instrumentos alternativos e a mudança na aferição da dívida pública.
No atual contexto, contudo, ainda bem que as compromissadas existem. Seus atributos são absolutamente necessários para superar o desafio do financiamento do elevado déficit público, em dobradinha com a dívida mobiliária, como a dupla de zaga Brito e Piazza, em homenagem aos 50 anos do tri.