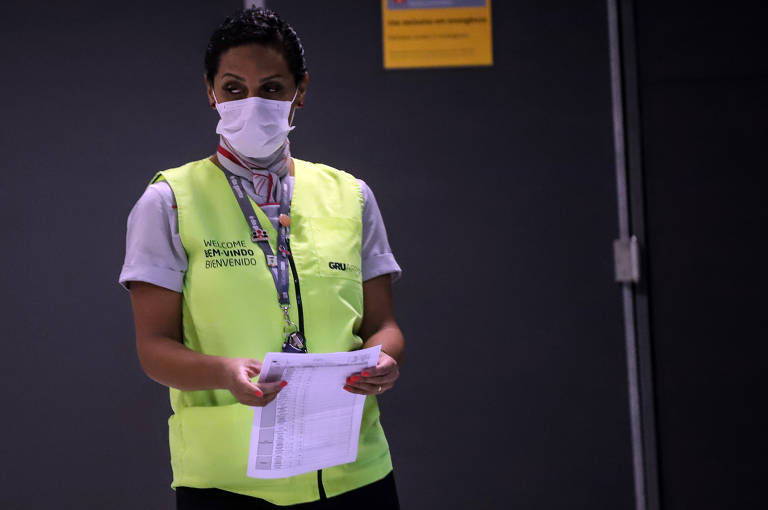Produto imobiliário pode ajudar a atrair talentos para as cidades e promover conexões sociais
A população mundial deve atingir 8,6 bilhões de pessoas em 2030, e isso transforma o desenvolvimento da produção habitacional em um dos maiores desafios do século 21. E se pudéssemos resolver pelo menos parte desse problema repensando a maneira como vivemos?
Talvez, os modelos de coabitação possam ser alternativa importante no atendimento da demanda por moradia.
A definição moderna de coliving envolve o trabalho de alguém que, de alguma forma, reúne pessoas diferentes para viverem em um mesmo imóvel, compartilhando ambientes que estimulam a socialização.
Esse conceito não é novo no Brasil. Desde a estruturação das antigas pensões, modelo semelhante foi utilizado pela locação de dormitórios ou camas, com o compartilhamento de outros espaços da casa, como salas, varandas e banheiros. As repúblicas estudantis, muito comuns em cidades com universidades, são modelos semelhantes ao do coliving.
Entretanto, o moderno conceito de coliving surgiu nos países escandinavos na década de 1960 e foi originado em função de três questões principais: falta de habitação acessível de qualidade, combate à solidão e criação de um senso comunitário nos locais de moradia.
Esse modelo vem se reestruturando ao longo dos anos e tem encontrado, em muitas cidades, entraves legais para o seu desenvolvimento. Apesar disso, teve maior impulso a partir de 2012 na China e nos EUA.
A evolução desse conceito como produto imobiliário de sucesso depende de uma série de fatores, entre eles uma legislação de uso e ocupação do solo compatível e novas formas de abordar os projetos arquitetônicos. Devemos nos afastar dos projetos compartimentados e criar edifícios com arranjos que possibilitem oportunidades para interação social. Comunidades não são commodities que podem ser manufaturadas facilmente. Para cada projeto específico, o equilíbrio entre o privado e o comunitário deve encontrar os níveis adequados e desejáveis de relacionamento entre as pessoas.
Na era do compartilhamento, o aumento expressivo de habitantes de grandes cidades morando em imóveis alugados reforça essa tendência. Londres, por exemplo, apresentava, no ano 2000, aproximadamente 40% dos habitantes morando em imóveis alugados, e há a expectativa de, em 2025, esse percentual chegar a 60%. Nos EUA, 27% da população morava de aluguel em 1996, número que subiu para 40% em 2019. Na cidade de Nova York, 67% dos domicílios são alugados.
Por outro lado, no Brasil, temos ainda muito espaço para crescer. Somente 19% dos domicílios são alugados e têm sua maior expressão na Grande de São Paulo, onde o total de domicílios nessa condição chega a 21%.
Há de se considerar, ainda, os efeitos positivos que esse novo produto imobiliário pode trazer para as cidades, como estímulo à atração de talentos, promoção da diversidade, incentivo a conexões sociais e, de alguma forma, tornar a cidade mais inclusiva. Esse modelo de moradia pode ajudar, ainda, a viabilizar o acesso à habitação por pessoas sem condições financeiras de morar em alguns locais da cidade, evitando, dessa forma, o processo de gentrificação nessas regiões.
Essa experiência comunitária deve ser expandida para a vizinhança. Para isso, o planejamento do produto deve incluir a compreensão da ambiência regional e das suas necessidades, além de promover o entendimento de como o empreendimento pode ser útil e quais os tipos de espaços ele deve conter para beneficiar o entorno.
Coliving pode se tornar uma alternativa importante no leque de opções para solução dos problemas habitacionais. Contudo, ele ainda carece de um pouco mais de entendimento quanto à sua estruturação pelo mercado, e de aperfeiçoamentos na legislação urbanística, para que esses marcos legais possibilitem a perfeita adaptação desse modelo ao regramento de uso e ocupação do solo.