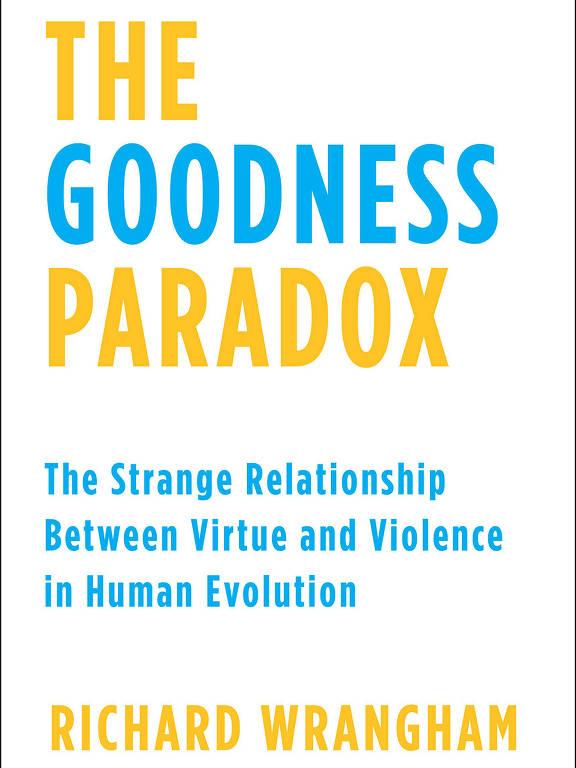De tempos em tempos, alguém vem com uma novidade sobre Marilyn ou Sinatra
Há dias, as agências falaram da última de Charles Casillo, uma espécie de biógrafo profissional de Marilyn Monroe. Num podcast disponível na Apple, ele afirma que Frank Sinatra queria se casar com Marilyn em 1961 e foi convencido por seus advogados a não fazer isto. Marilyn iria inevitavelmente se matar, disseram, e, quando acontecesse, o público poria a culpa nele. Segundo Casillo, Sinatra concordou e, claro, Marilyn "se matou", em 1962.
De tempos em tempos, alguém vem com uma novidade sobre Marilyn ou Sinatra. Outros descobrem a identidade de Jack, o Estripador, dão uma nova versão sobre o assassinato de John Kennedy ou descrevem em detalhes o monstro do lago Ness. E ainda outros deslindam o complô no Vaticano que matou o papa João Paulo 1º ou narram a história secreta de como Adolf Hitler e Eva Braun escaparam do bunker por um túnel e passaram incógnitos os 30 anos seguintes, dedicando-se à criação de marrecos na Argentina. Não faltam também os segredos sobre discos voadores que a Nasa tenta esconder. Sempre haverá quem leve essas cascatas a sério.
Mas esta de Sinatra e Marilyn não cola. Os dois geraram, nos últimos 60 anos, cerca de mil livros cada. Milhares de pessoas já foram ouvidas a respeito deles, permitindo um escarafuncho da vida e da obra de ambos, de modo a não restar mais a menor dúvida.
Em 1961, Marilyn tinha um caso com John Kennedy, intermediado por Frank, e se iludia com a ideia de ser a primeira-dama dos EUA. Sinatra, por sua vez, estava de olho em Pat Kennedy, irmã do presidente e casada, mas em crise, com seu amigo Peter Lawford. Quando o affair com Kennedy acabou, Marilyn, que adorava Frank, achou que tinha uma chance de se casar com ele.
Mas não tinha. A não ser que largasse tudo, virasse uma mulher recatada e do lar e se dedicasse a lhe cozinhar macarrão —como Frank exigia de suas esposas.