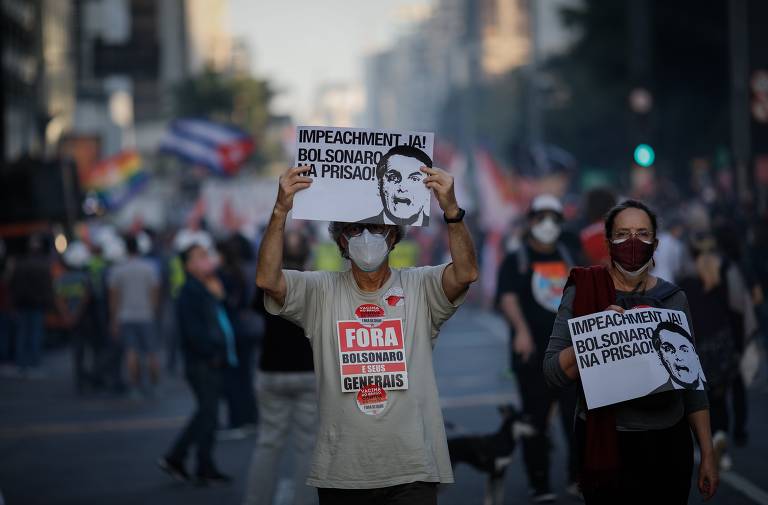[RESUMO] Franco favorito às eleições de 2022, Lula é a melhor promessa de pacificação do país. Uma nova Presidência do petista, contudo, pode normalizar cenário de retrocesso de direitos sociais e desarranjo constitucional se a esquerda insistir em ceder para garantir a governabilidade e não usar posição vantajosa para cobrar compromissos de aliados.
Quando o projeto da derrubada de Dilma Rousseff ganhou as ruas, o Congresso e a mídia —com o governo se mostrando singularmente incapaz de reação—, vaticinou-se o fim do momento petista da esquerda brasileira.
Um partido nascido no calor das lutas operárias do final dos anos 1970, que havia crescido na política institucional e conquistado a Presidência da República quatro vezes seguidas, deveria ser capaz de uma reação muito mais vigorosa contra a trama preparada para atingi-lo.
Para quem acompanhou a mobilização em defesa do mandato que a presidente conquistou nas urnas, estava claro que a resistência vinha muito mais de novos coletivos juvenis, feministas, negros, LGBTQIA+ e periféricos que de uma militância petista já envelhecida e acomodada. Muitos defendiam a legalidade sem sequer apoiar o governo, como expressou a maravilhosa faixa vista em algumas manifestações: “Fica, Dilma, mas melhora”.
Luiz Inácio Lula da Silva não saiu incólume. Havia sido o maior líder popular da história do Brasil, sem dúvida, mas foi colocado na defensiva. A solidariedade ao ex-presidente, contra a perseguição judicial e midiática que sofria, foi expressada por democratas de diferentes matizes, mas havia quase um consenso de que seu tempo estava passando. Era um nome muito forte para 2018, claro, mas pôde ser eliminado da disputa com facilidade.
O ato na frente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo antes de Lula se entregar à Polícia Federal rendeu belas fotos, mas a verdade é que a reação à prisão arbitrária de Lula foi fraca. Seja porque o lulismo optou por um caminho desmobilizador, que reduzia a participação política ao voto, seja porque a campanha incessante de desconstrução da imagem do ex-presidente tinha rendido frutos, o fato é que sua liderança parecia esvaziada, impotente.
As eleições de 2016, de 2018 e de 2020 não foram a catástrofe para o PT que alguns afoitos vaticinavam, mas revelaram um partido fragilizado. O PSOL, apontado como possível sucessor, cresceu pouco no voto popular, mas atraía lideranças mais jovens e parecia encarnar a promessa de renovação.
Guilherme Boulos foi derrotado na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2020, mas chegou ao segundo turno, bem à frente do candidato petista. Muitos não hesitaram em saudá-lo como o futuro da esquerda no Brasil.
O cenário mudou com a libertação e a recuperação dos direitos políticos pelo ex-presidente Lula. Ele cresceu politicamente na cadeia, pela dignidade inegável com que enfrentou o cárcere.
Mesmo para quem já percebia a inanidade dos processos preparados pela Lava Jato, a exposição das estranhas da operação foi chocante, como comprovação da corrupção profunda de vastos setores do Judiciário e do Ministério Público —o que também favoreceu Lula, alvo principal do que, estava evidente, foi uma verdadeira conspiração contra a democracia brasileira.
O mais importante, no entanto, foi o clima político no momento de sua soltura. O país atravessava o pior pedaço da crise sanitária, econômica e social desencadeada pela pandemia, com o governo de Jair Bolsonaro insistindo no negacionismo, indiferente aos custos humanos.
A esperança de que seria possível afastá-lo do cargo já havia se dissipado, com a abertura do governo ao centrão, a hesitação da oposição de direita, preocupada em não comprometer a agenda econômica que compartilha com o bolsonarismo, e a reiterada opção preferencial do STF por contemporizar.
Lula surgiu, então, como aquele que era capaz de dar voz à revolta e prometer a retomada de um caminho de sanidade, estabilidade e desenvolvimento para o Brasil.
Falta muito tempo para as eleições do ano que vem, em um cenário tumultuado, a começar pelas ameaças de um novo golpe, alardeadas todos os dias pelo presidente da República. Porém, no momento, Lula é o franco favorito.
O desespero evidente de Bolsonaro é o melhor indício de que ele mesmo avalia que suas chances nas urnas são diminutas. A chamada terceira via não parece capaz de se viabilizar e oscila entre insistir em nomes tarimbados que mostram desempenho pífio ou buscar um novato, manobra incerta no momento em que o discurso da antipolítica perde tração.
Ciro Gomes, mais uma vez candidato de si mesmo, queimado à esquerda desde sua promenade parisiense em 2018, tem dificuldade para se credenciar junto à direita, arriscando ficar aquém de seu teto histórico de 12% dos votos.
Lula não apenas entra na corrida como favorito. É bem provável que ele surja como candidato único da esquerda (à parte PSTU e talvez PCB, que têm registro eleitoral irrelevante). O ex-presidente atraiu o PSB, mantém a fidelidade do PC do B e há boa chance de contar com o apoio do PSOL.
A candidatura do deputado Glauber Braga está posta, mas serve sobretudo para alimentar os confrontos internos do partido. Caso seja mesmo lançado candidato, Braga —por mais que conte, na esquerda, com reconhecimento unânime como parlamentar brilhante— está condenado a ser mero figurante na disputa presidencial.
Mas o que Lula vai fazer com tamanho favoritismo? Qual pode ser o caminho de um novo governo de centro-esquerda no Brasil pós-Bolsonaro?
Os desafios são grandes. Desde o golpe de 2016, o país vive um processo acelerado de desconstitucionalização, no qual o pacto que originou a carta de 1988 foi rompido por decisão unilateral das elites. O que nela está escrito vale ou não vale de acordo com as circunstâncias e com o alvo da decisão.
Os Poderes vivem em uma permanente queda de braço para ver quem manda, já que as regras perderam eficácia. O horizonte normativo que animava a Constituição, de um país menos injusto e menos violento, foi desfigurado, o que se traduziu no encolhimento dos direitos e das políticas sociais —a obra comum dos governos de Michel Temer e Bolsonaro.
O outro lado da moeda é o desmonte do Estado, por uma política de privatizações irresponsáveis ou pelo deliberado subfinanciamento. Saúde, ciência, meio ambiente, educação, cultura: não há uma área que não sofra as consequências do assalto às políticas públicas.
Ao mesmo tempo, movidos por demofobia e, ainda mais, pelo apetite pelas benesses do poder, os militares se rendem à tentação de tutelar o governo civil.
Por fim (e sem que a lista seja exaustiva), é preciso lembrar uma extrema direita agressiva, que não vai evaporar com a eventual derrota de Bolsonaro e que está sendo adestrada para conflagrar qualquer retomada democrática no Brasil. Um grupo, convém assinalar, fortemente armado, dada sua penetração entre militares, policiais, milicianos e também entre os “cidadãos de bem”, que aproveitaram as recentes facilidades para a aquisição de pistolas ou fuzis.
Lula, como de costume, emite sinais ambíguos sobre o que pretende fazer. Declarações contra as privatizações e em favor do retorno de um Estado capaz de promover bem-estar e induzir desenvolvimento convivem com gestos destinados a acalmar o “mercado”, que é o nome de fantasia que a imprensa dá ao grande capital. A defesa de medidas democratizantes, que melhorem a qualidade da representação política no Brasil, se combina com acenos para o centrão e para líderes religiosos negocistas.
O caminho da recomposição do arco lulista original, aquele do início do primeiro mandato, garantiria a “governabilidade”, entendida em seus termos mais convencionais: maioria no Congresso, relações amigáveis com o empresariado e relativa trégua com a mídia corporativa.
O problema é que as condições para arrancar as contrapartidas (as políticas sociais compensatórias, a ampliação das oportunidades para os integrantes dos grupos mais vulneráveis, um esboço de projeto nacional de desenvolvimento) estão muito pioradas, seja pelo recuo dos marcos legais e enfraquecimento do Estado, seja pela presença de uma burguesia que exige uma parcela ainda maior da riqueza e de uma classe média intoxicada pelo medo de ver diminuída a distância que a separa dos mais pobres.
Neste quadro, uma nova Presidência de Lula significaria a normalização da ordem que foi instaurada a partir do golpe de 2016, uma normalização mais perfeita do que seria possível sob qualquer político conservador. Um presidente de esquerda, mas acomodado aos direitos perdidos, à economia desnacionalizada e à Constituição conspurcada.
Na derrota, Bolsonaro estaria prestando um último serviço à destruição da democracia brasileira: o de encarnar o bode na sala. Sua saída de cena geraria um enorme alívio —bodes na sala de fato causam muito transtorno. Por contraste, ficaria a impressão de que a ordem social e política aviltada pelos retrocessos sofridos a partir de 2016 é o avanço possível, a ser comemorado.
É verdade que fica difícil imaginar um cenário diverso, de rápida reversão das derrotas dos últimos anos, dada a fraqueza do campo popular, mas convém colocar na equação também o fato de Lula poder negociar em condição vantajosa.
Ele é o favorito, o que basta para atrair a massa de políticos que não suportam a dureza de estar na oposição. Ele é a melhor promessa de pacificação do país, o que interessa a todos que veem no Brasil mais do que um território a ser saqueado. A direita está cindida e sem um nome viável, e a ampla coalizão de forças que se uniu para desferir o golpe de 2016 não opera mais.
Portanto, é possível tentar algo mais que apenas ceder. É possível cobrar compromissos mínimos dos novos aliados —a começar pelo compromisso com a efetiva reconstitucionalização do país.
O pacto lulista original foi marcado pelo entendimento de que a transformação social no Brasil estava bloqueada e que era preciso agir com enorme tato para não afrontar privilégios e garantir o mais básico —em primeiro lugar, a erradicação da miséria. O tato incluía, notadamente, evitar qualquer esforço de mobilização e organização do campo popular.
O resultado, como se viu, foi que, no momento em que a classe dominante decidiu reverter a situação, a capacidade de resistência era diminuta. A reedição de um acordo nesses termos, que bloqueie de antemão qualquer ação para mudar a correlação de forças, é a garantia de que uma retomada democrática levará, como outras vezes na história do Brasil, a um voo de galinha.
Não é fácil a tarefa de construir a democracia no capitalismo periférico. Se nos países centrais a erosão das condições que permitiram seu florescimento no século 20 já leva a processos de “desdemocratização”, que dirá do Brasil, que tem uma classe dominante alérgica a qualquer forma de justiça social e com tanto medo do povo que prefere, como já observava Florestan Fernandes, se manter como sócia menor do capitalismo internacional a correr o risco de enfrentar por conta própria os destituídos de seu país.
Para uma esquerda que aspira voltar ao poder em condições tão adversas, é hora de usar a imaginação política e buscar soluções novas, não de voltar a trilhar itinerários cujos limites já estão demonstrados pela história recente.










































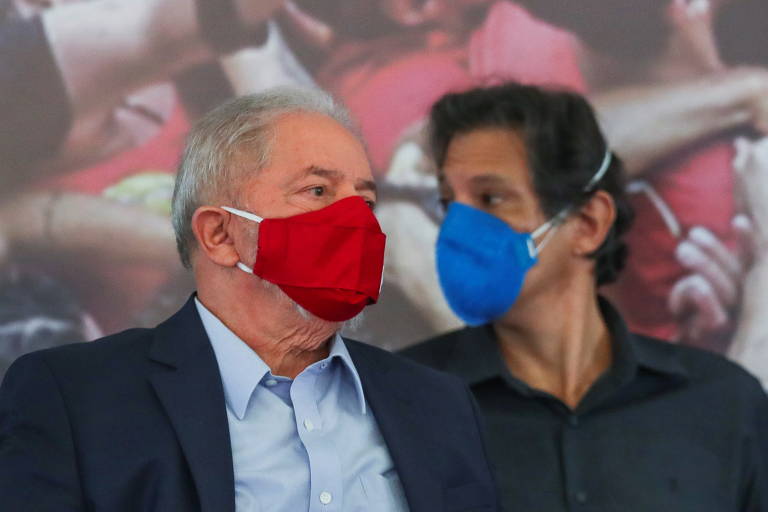



![Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels: "Temos um inimigo iminente [a pandemia]. E temos que concentrar esforços nisso. O sucesso ou não disso muda o cenário. Nesse momento minha preocupação é a vacinação para todos. Não tenho cabeça para outras questões"](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2021/03/20/161627778360567117bff4c_1616277783_3x2_md.jpg)

![Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas: "Até entendo a lembrança do meu nome [para vice em uma chapa de Lula] por conta do meu pai. Mas sou candidato a presidente da chapa única para as eleições da Fiesp. Meu projeto é ajudar a indústria nacional e a indústria paulista"](https://f.i.uol.com.br/fotografia/2018/10/11/15393076595bbff88b31f3f_1539307659_3x2_md.jpg)