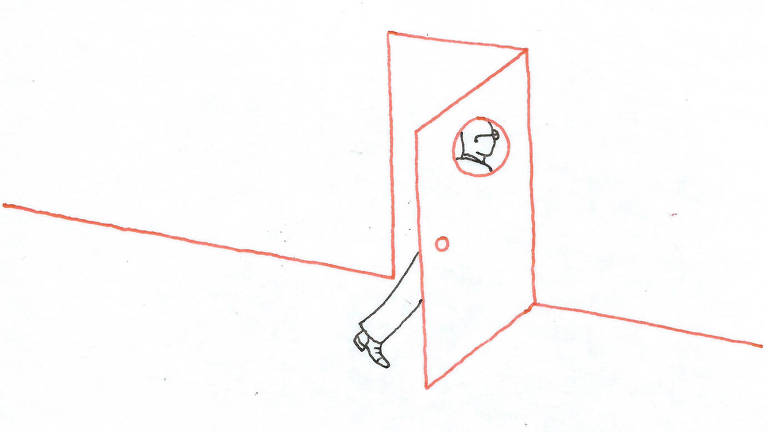Me deu um enorme vazio e uma profunda tristeza ao saber da notícia da morte de Clóvis Rossi
SÃO PAULO
Meu amigo Grandão morreu nesta sexta-feira de madrugada, aos 76 anos, exatamente como viveu: discretamente.
[ x ]
Era apenas cinco anos mais velho que eu, mas parecia muito mais. Era tão sério e caxias que já deve ter nascido adulto, cheio de responsabilidades. No serviço, não gostava de brincadeiras, embora fosse um grande gozador, principalmente dele mesmo.
É muito difícil escrever sobre este amigo de mais de meio século e quase dois metros de altura, que ficou grande sem ficar bobo —ao mesmo tempo, uma espécie de pai adotivo e irmão mais velho para mim.
Esse é certamente o texto mais difícil e dolorido que já escrevi. "Larga de frescura", diria o Grandão, e me mandaria entregar logo a matéria.
Nos conhecemos muito jovens no Estadão, no final da década de 60, quando ele era editor e chefe de reportagem de um bando de focas, jovens iniciantes na profissão.
Dei uma sorte danada de cair nas mãos dele. Clóvis Rossi não era um jornalista qualquer. Era o brasileiro mais dedicado e preparado para o exercício desta profissão e tinha grande prazer em ensinar quem estava começando.
Formou toda uma geração. Não só ensinando a escrever, mas principalmente a se comportar com dignidade, a ser honesto com o leitor e a ter princípios no trabalho e na vida. Para o Grandão, ser jornalista era assumir um compromisso com sua gente, seu tempo e sua profissão, que para ele era a melhor do mundo.
Na noite em que o Brasil entrou no quinto ato, em 1968, o golpe dentro do golpe, preocupado com seus garotos, ele nos alertou: "Cuidado, meninos, a brincadeira acabou".
Na última quinta-feira (13), meio século passado, uma semana depois de ter um piripaque no coração e implantar vários stents, nosso antigo chefe estava tão bem que o médico lhe deu alta um dia antes —o sujeito já estava indócil por não poder trabalhar.
Foi para casa, pediu um bom bife com arroz e feijão e, em seguida, resolveu descansar um pouco antes de ver o jogo da seleção brasileira feminina contra a Austrália.
Estava novamente em casa, feliz, sem dores, mas andava muito triste com a doença degenerativa e sem cura do nosso país. Na última vez em que nos vimos, uns dois meses atrás, num almoço com nosso eterno parceiro Raul Martins Bastos, ele me pareceu mais cético e amargo do que de costume, sem esperanças. Acho que foi dessa tristeza sem fim que ele acabou morrendo.
Já sem força nas pernas, o principal instrumento de trabalho dos repórteres, o amigo sentia falta das viagens que fazia pela Folha para ver de perto o mundo mudando.
Rossi foi talvez o único jornalista conhecido que cobriu o fim de todas as ditaduras na América Latina, na Europa e na África, e comemorou muito intimamente as festas da volta da democracia, em especial no nosso Brasil. Por isso, não se conformava com as sérias ameaças de um retrocesso.
Sem se vangloriar de nada, contava suas aventuras de repórter peripatético como se estivesse falando de outra pessoa. Ganhou, aqui e lá fora, os principais prêmios com que um jornalista pode sonhar, mas na casa dele não se via nenhum troféu ou diploma.
Podia ser a casa de qualquer um, e era isso o que o Rossi mais queria: passar despercebido, como apenas mais uma testemunha anônima dos fatos da nossa história recente.
E, assim como viveu, ele morreu nesta sexta, sem dar bandeira de nada. O importante para ele era a notícia, não o mensageiro, quer dizer, o repórter, ao contrário do que tanto vemos hoje em dia.
Reservado na vida pessoal e sempre discreto no trabalho, acho que tinha até vergonha de ser apresentado como o grande Clóvis Rossi.
Respeitado por políticos de todas as siglas, no Brasil e no mundo, dos dois lados da faixa de Gaza, Rossi nunca teve partido, mas sempre teve lado.
Podia falar no mesmo dia, de igual para igual, com Lula e FHC, com o líder dos direitos humanos ou o chefe da polícia, num país dividido ao meio pela intolerância.
Mas acho que nunca conseguiu, ou não quis, falar com o capitão reformado Jair Bolsonaro. Para Rossi, tudo tinha um limite ético, uma linha na qual ele não ultrapassava. Nisso, apesar das nossas divergências políticas, éramos iguais.
Rossi foi, acima de tudo, um democrata na pura acepção da palavra, um humanista que não tolerava as iniquidades das crescentes desigualdades sociais que encontrou de corpo presente em suas mil reportagens pelo planeta.
Na quinta à noite, para desgosto de dona Catarina, a Cat, sua mulher por mais de 50 anos, minha madrinha de casamento, Rossi foi assistir ao segundo futebol do dia na TV, o jogo do Palmeiras contra o lanterna Avaí. Era o jeito que ele encontrava de se desligar das desgraças do mundo.
Cat resolveu ir dormir, tranquila com a rápida recuperação do marido. Tinha sido apenas um susto, a vida seguia na correnteza normal.
Lá pela 1h, o Grandão a acordou. "Não estou conseguindo respirar direito, não sei o que é." A mulher falou para ele sentar na cama. "Isso deve ser pelo pânico pelo que você passou", diagnosticou ela, e passou a massagear suas costas.
"Acho que vou desmaiar", foram suas últimas palavras. Caiu de costas na cama, em silêncio, sem dar um grito de dor. Quando a ambulância chegou, já o encontrou morto.
Me deu um enorme vazio e uma profunda tristeza ao saber da notícia. Era a ele que eu sempre recorria nos momentos mais difíceis da vida.
Não é justo, não me conformo. O Grandão velho de guerra não poderia morrer justamente agora que o jornalismo de qualidade e o país dilacerado precisam tanto de pessoas como ele, um exemplo de cidadão de caráter (não confundir com "gente de bem").
Não é porque ele morreu, mas posso garantir que esse foi um grande cara.
Começamos juntos no Estadão, passamos juntos pelo Jornal do Brasil, pela IstoÉ, de Mino Carta, e pelo Jornal da República, e estávamos terminando juntos nossas carreiras aqui na Folha, quando, de repente, ele resolveu ir embora e me deixou sozinho. Foi uma grande sacanagem.
Valeu, Grandão. Agora você pode descansar em paz. O jornalismo brasileiro agradece o que você fez por nós.
Vida que segue, sem você.