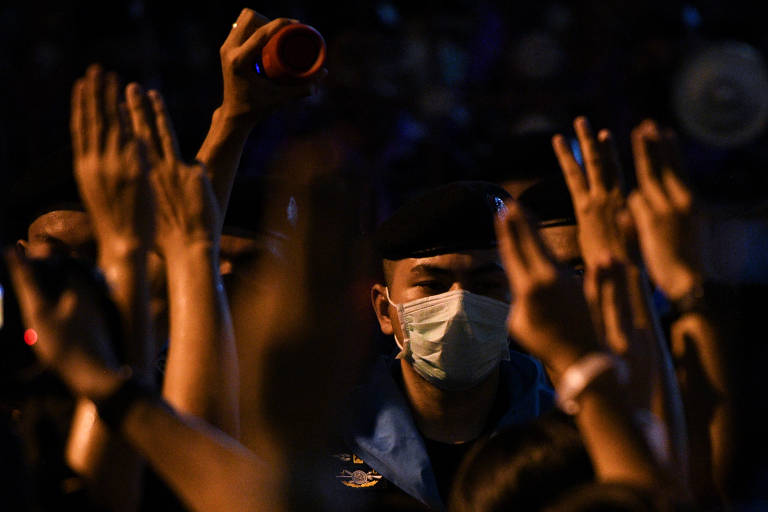Luiza Pastor
Mulheres estão à frente hoje de 50% de novos empreendimentos no país, segundo o Sebrae. No entanto, ainda estão restritas a segmentos tradicionais, de pouca inovação e baixo potencial de retorno financeiro. Elas também captam menos recursos para impulsionar seus negócios.
O problema dessas cifras começa pelo motivo que as leva a empreender, explica Renata Malheiros, coordenadora de Empreendedorismo Feminino do Sebrae. Segundo ela, enquanto a maior parte dos homens começa um negócio para explorar a oportunidade de pôr em prática uma boa ideia, mulheres o fazem muitas vezes por necessidade.
Não à toa, segmentos campeões do investimento feminino fazem parte do cotidiano tradicional do gênero: beleza, moda e alimentos e bebidas.
“Não há nada de errado nisso, mas se você olhar de perto, verá que os investimentos delas têm baixo valor agregado e pouca inovação”, explica a coordenadora. “Se a mulher abre uma empresa para vender um cosmético de última geração, provavelmente o cientista que desenvolveu esse cosmético é um homem, então é ele que vai ficar com o maior valor.”
A diferença entre tipo de setor e motivação para investir se reflete em uma baixa presença de mulheres trabalhando ou liderando startups. De acordo com dados da base estatística da ABStartups, a participação delas é de apenas 16% em média nessas empresas. Além disso, quatro de cada 10 startups não têm nenhuma mulher em seus quadros.
“O ecossistema das startups no país é predominantemente composto por homens brancos de classe média, eles são 85% do total”, reconhece Amure Pinho, presidente da ABStartups.
Ele conta que a entidade tem procurado mudar essa realidade, buscando assegurar presença feminina nas suas iniciativas, “mas muitas vezes percebemos, só depois que o evento começa, que estamos participando de um encontro em que nenhum dos palestrantes ou especialistas é mulher”. A Abstartup mantém um Comitê de Diversidade para estudar meios de incentivar uma maior participação feminina.
Restrições culturais são causas relevantes para que, no Brasil, segundo o Sebrae, startups fundadas por mulheres tenham recebido apenas 2,2% dos recursos de venture capital globais nos últimos dois anos, mesmo tendo entregado o dobro de retorno a seus investidores.
“Mulheres crescem ouvindo que engenharia e matemática não são para meninas, que nós não nos damos com números, que não somos tão assertivas quanto os homens, enfim, temos uma série de crenças limitantes que atrapalham o trabalho”, diz Malheiros, do Sebrae.
Na tentativa de reverter esse quadro, ela também coordena o programa WE (Women Entrepeneurship), primeiro fundo da América Latina 100% dedicado a mulheres em tecnologia. A premissa é investir em startups nas quais elas detenham pelo menos 20% do capital social.
O WE nasceu de uma parceria com a Microsoft e soma R$ 50 milhões, cujos principais aportadores são a Belvedere Investimentos e a Berta Capital. O programa teve 900 inscrições em sua primeira edição, no ano passado, e tem 18 startups aceleradas nas mais diversas atividades.
A diferença entre homens e mulheres não é exclusividade do Brasil e já foi tema de estudos acadêmicos de algumas das principais instituições de ensino do mundo.
Um relatório publicado pela Harvard Business Review, em 2017, aponta que a principal dificuldade para que mulheres consigam financiamento começa nas perguntas feitas a elas pelos investidores.
“Esse estudo feito em Harvard mostra que há uma percepção de que mulheres são mais avessas ao risco, são mais conservadoras”, explica Mônica Saggioro, sócia de Lara Lemann na Maya Capital, fundo de venture capital que tem em seu portfólio 40% de startups fundadas ou cofundadas por mulheres e conta com US$ 41 milhões em caixa para investimentos em seed, ou seja, iniciais.
“Aos homens, era perguntado como pensavam crescer, qual era seu sonho, onde queriam chegar, como esperavam dominar o mundo, enfim, coisas que os faziam falar de temas muito mais encorajadores, enquanto para as mulheres eles perguntavam como poderiam se proteger da concorrência, como buscariam uma margem saudável, tudo mais voltado para o risco”, acrescenta Saggioro.
“As mulheres, naturalmente, acabavam dando respostas muito mais conservadoras do que os homens.”
Monitorar as entrevistas de modo a evitar que esse estereótipo se repita é uma das missões da Maya, que nasceu justamente de suas conversas com Lemann sobre a estranheza de ser a única mulher nas reuniões e equipes das grandes empresas em que trabalhou.
“Percebemos que havia um fosso muito grande de investimentos para startups em estágio inicial de negócios na América Latina, um volume grande de talentos crescendo em empreendedorismo mas sem que o total de fundos crescesse na mesma velocidade", conta.
O objetivo da MAYA é liderar as primeiras rodadas de venture capital de startups early stage na América Latina. Depois disso, o fundo acompanha os empreendedores de perto para ajudá-los em rodadas posteriores de captação. “Metade de nosso fundo se destina a investir em rodadas subsequentes, pois assim conseguimos fôlego para acompanhar a trajetória daquela empresa.”
Com a fundação da venture capital nasceu paralelamente uma iniciativa chamada Female Force Latam, não por coincidência no Dia da Mulher, em março de 2019.
Trata-se de uma plataforma de mentoria para mulheres, que está sendo reestruturada com o apoio de voluntárias especialistas para ir além. “Hoje é isso, mas vamos ser muito mais”, garante Lemann.