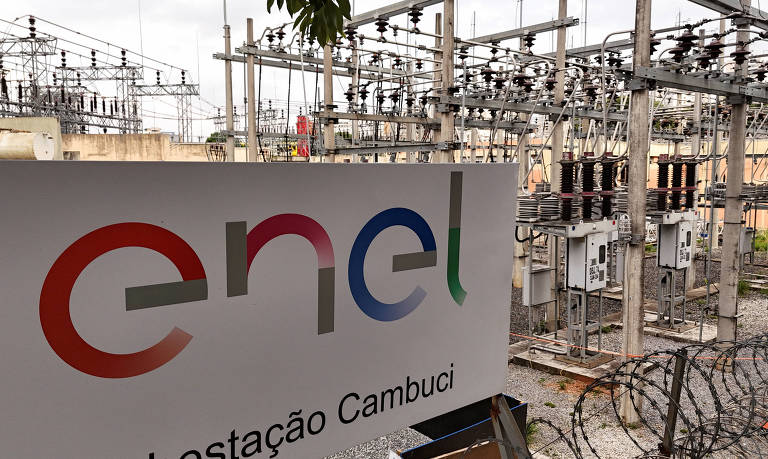O professor Conrado Hübner, que escreve semanalmente na Folha de São Paulo, criou um neologismo – bolsalidade – palavra substantiva que sintetiza em um único termo as características, atributos e comportamentos próprios de alguém que você certamente conhece.
A bolsalidade se infiltra nas frestas do cotidiano como mofo em parede velha: não aparece de uma vez, mas aos poucos toma a superfície, disfarçada de piada, de “opinião forte”, de “senso prático” que dispensa livros, instituições e nuances. A bolsalidade é um método de simplificar o mundo até que caiba num meme: um mundo sem dúvidas, sem delicadezas, sem a lerdeza paciente do pensamento.
Não se limite a procurá-la nas passeatas de gritos e nas camisetas de frases de efeito. Ela está também nos risos cúmplices das mesas de bar quando alguém transforma a dor de um grupo inteiro em anedota; no compartilhamento impensado de um vídeo “que só estou repassando”; na convicção de quem, diante da complexidade, responde: “Eu vi no WhatsApp”. Está nos ambientes de trabalho quando se normaliza o desprezo por quem lê, estuda ou recusa o atalho da grosseria. Está, sobretudo, na covardia social de quem sabe que certas violências são inaceitáveis, mas prefere acomodar-se ao coro para “não causar”.
Hannah Arendt chamou de banalidade o que muitos gostariam de enxergar como monstruosidade: a capacidade de gente ordinária reproduzir, por hábito, indiferença e servidão ao brutal. A bolsalidade, como versão tropical dessa engrenagem, converte a grosseria em virtude cívica e a ignorância altiva em prova de autenticidade. O gesto é antigo: Umberto Eco, ao listar traços do “ur-fascismo”, descreveu a idolatria da ação pela ação, o culto da força, o medo da diferença, o machismo travestido de moral — como se fossem espelhos pendurados na nossa sala de estar. Do outro lado da nossa tradição, Machado de Assis, na “Teoria do Medalhão”, desenhou a apoteose da mediocridade respeitável: a carreira do espírito que evita ideias para colher aplausos. Se trocarmos a cartola pelo boné e a pena pelo post, a genealogia está feita.
“Mas isso é só política”, dirá alguém, abanando a mão. É aí que a crônica pede atenção. A bolsalidade não é mera preferência partidária; é um estilo de percepção. Onde ela chega, a linguagem perde gradações; a realidade vira o que convém numa tarde quente. Numa escola, vira a desconfiança contra o professor que convida ao debate. Num fórum, vira a impaciência contra o rito e a prova, como se o devido processo fosse frescura. Numa redação, vira o cálculo cínico de que a verdade precisaser torcida para caber no algoritmo. Na família, vira a pedagogia do deboche, ensinando crianças a rir do fraco e a desconfiar da compaixão.
“Ah, mas todo mundo exagera.” Sim, todo mundo erra; a diferença é quando o erro vira identidade e ponto de honra. A bolsalidade orgulha-se de sua própria rudeza, veste-a como brasão. Ela aplaude a humilhação como quem celebra eficiência, confunde firmeza com brutalidade e chama de “lacração do bem” qualquer ataque que lhe interesse. No extremo, ela transforma a violência em estética — e, como toda estética, pega. É contagiosa porque dá pertencimento rápido e barulhento, fornece respostas sem custo, heroísmos sem sacrifício e inimigos sem rosto.
Há um detalhe que os manuais não sublinham: a bolsalidade é uma indústria caseira. Não precisa de grande financiamento nem de quartéis; precisa de plateia. Alimenta-se do riso fácil, do like distraído, do silêncio dos tibetanos do centro — aqueles que, em nome de uma prudência que não fere ninguém, deixam que tudo se fira. Cresce, portanto, na omissão dos que se julgam “acima” do tumulto, mas cuja neutralidade só pesa de um lado. A indiferença, dizia Antonio Gramsci, é musculosa; e aqui ela é personal trainer de boçalidade.
Como desmontar isso sem virar o que se combate? Primeiro, recuperando a gramática da civilidade sem melar a firmeza. Não se trata de “ser fofinho”, mas de reabilitar a ideia de que pensar exige tempo e que o outro não é um obstáculo a ser esmagado, e sim uma alteridade a ser compreendida ou refutada com argumentos. Em segundo lugar, defendendo instituições não como fetiches, mas como pactos: a ciência com suas correções, a justiça com seus prazos, a imprensa com sua autocrítica, a política com sua chatice. A chatice democrática é o preço da liberdade: discussão, contraditório, evidência, voto, prestação de contas. É menos excitante que a grosseria performática — mas sustenta.
Há, ainda, um antídoto de longo prazo que costuma parecer delicado demais para tempos ásperos: a literatura. Antonio Candido lembrava que a fruição literária é um direito humano porque humaniza. Ler com vagar é treinar o músculo da nuance, da ambiguidade, do “não sei”. É aceitar que um personagem pode nos desmentir sem que precisemos cancelá-lo. A bolsalidade, que só reconhece caricaturas, apodrece quando obrigada a lidar com Dostoiévski, Clarice, Guimarães Rosa, Shakespeare — não porque esses autores deem respostas, mas porque nos impedem de empinar certezas. E, se quiser um autor doméstico para a vacina, repito: Machado de Assis, mestre das ironias microscópicas, doutor em desmontar pretensões.
Imaginona cena comum numa manhã de calor em Ribeirão Preto: na padaria, o rádio despeja palavras de ordem que soam prontas, um senhor repete um bordão de campanha como se fosse oração, a moça do caixa sorri amarelo e volta ao troco. Nada acontece — e tudo acontece. A vida segue no compasso da normalidade, enquanto as pequenas licenças do discurso vão ganhando ares de lei natural. Do
lado de fora, a calçada estala ao sol; do lado de dentro, a conversa pula de preço do café para “essa gente aí”. É assim que se arma a pasmaceira moral: cada qual jura que não participa, mas empresta o ouvido, o riso, o repasse.
Talvez a crônica não mude ninguém. Talvez sirva só para registrar o incômodo e propor um método doméstico de resistência: recusar o deboche como argumento, exigir provas quando a retórica vier gritando, proteger a dúvida como território sagrado e manter o humor — não o humor de humilhar, mas o humor de enxergar o ridículo do próprio lado. Porque a bolsalidade é onívora: se não a policiamos em nós, ela muda de camiseta e continua.
No fim da tarde, quando o vento melhora e as árvores da rua deitam sombra na fachada, você percebe que a vizinhança também cansa do grito. Uma criança pergunta por que adulto fala tão alto. A pergunta, pequena e justa, é a melhor crítica sociológica do dia. Quem sabe seja por aí: reaprender a falar baixo para pensar alto, sem abdicar da coragem de dizer “não”. Não ao cinismo travestido de sinceridade. Não à ignorância exibida como troféu. Não à crueldade com fantasia de patriotismo.
E então volto ao início, para que se feche o círculo com uma escolha: se a bolsalidade não é surto de poucos, tampouco é destino de todos. Ela viceja onde a conversa rende pouco e a imaginação se rende cedo. Se a tratarmos como estilo — e não como inevitabilidade —, poderemos aposentá-la como se aposentam modas ruins: parando de usá-las, de aplaudi-las, de achá-las “apenas engraçadas”. E, quando a vontade de repetir o bordão vier, lembrar que o silêncio, às vezes, é uma elegância; e a elegância, nesses tempos, é um compromisso político.
A crônica acabou, mas a conversa ainda nos salva.