Das sete Constituições que o Brasil já teve em sua história, duas foram sob Getúlio Vargas: a de 1934, que se pretendia democrática, e a de 1937, outorgada com a instauração do Estado Novo, de caráter centralizador e que suprimiu direitos individuais e políticos.
As duas Cartas Magnas representaram um aumento da centralização de poder e funções no país após a Primeira República, marcada pela força dos estados em detrimento do governo federal a ponto de os partidos serem de caráter estadual, não nacional.
Os dois textos sob Vargas, porém, influenciaram as três Constituições seguintes, que flutuaram em quanto o poder central poderia fazer, além da extensão dos direitos garantidos pela lei.
A Constituição de 1988, atual texto que rege o país, é a com maior proteção em termos de direitos individuais, sociais e ambientais garantidos, tanto no artigo 5º, conhecido pelas garantias como a liberdade de imprensa ou a liberdade de ir e vir, quanto em outros dispositivos, como o direito à saúde, no artigo 196, ou o artigo 11, que estabelece a liberdade e as regras para a criação de partidos políticos.
Olhando para o grau de atribuições entre os entes federativos, a atual Carta Magna adota a cooperação entre União, estados e municípios. Há competências exclusivas dos três graus políticos, além de temas comuns, ou seja, onde mais de uma figura pode legislar sobre o assunto. Por fim, há as competências concorrentes, quando a lei federal dá diretrizes gerais, que são suplementadas pelos estados.
A forma como os diferentes temas e questões da administração pública são organizados nem sempre foi assim, e variou conforme o contexto político. A primeira Constituição da história do país, a de 1824, ainda no Império, era essencialmente centralizadora.
O Estado brasileiro era unitário à época —todo o poder político e de legislação ficava na monarquia e no Legislativo nacional. O país era parlamentarista, ou seja, um primeiro-ministro teria autonomia para formar um gabinete de governo e executar a legislação.
Entretanto, o texto constitucional previa o Poder Moderador, o que dava mais poder ao imperador ao permitir que ele pudesse intervir na Assembleia Geral (nome para o Legislativo à época) e depor ministros.
Havia províncias, equivalentes aos atuais estados, e municípios, mas estes tinham caráter meramente administrativo, sem autonomia para tomar decisões que divergissem do poder central brasileiro a depender da realidade local.
Veio a Proclamação da República em 1889 e, dois anos depois, a Constituição de 1891, com uma essência contrária ao que o Império preconizava: além da mudança do tipo do Estado, que agora se tornou federativo, o poder central perdeu força e foram empoderados os estados.
Inspirada no modelo americano de organização social e política, a autonomia dos poderes locais era um pedido das elites econômicas pelo país, o que, inclusive, deu espaço ao coronelismo. Além do poder financeiro, a perpetuação política ocorria a partir das várias fraudes eleitorais e do fato de o voto não ser secreto.
Falando sobre eleições na Primeira República, elas eram organizadas pelos estados, sem uma Justiça Eleitoral ou órgão central que uniformizasse a operação do processo, como é hoje. Os votos eram contados por estado, e os eleitos eram diplomados pelos Legislativos estaduais ou, no caso federal, a Câmara dos Deputados.
Os estados à época tinham a prerrogativa de contrair, eles mesmos, empréstimos no exterior, decretar impostos e ter códigos eleitorais próprios, dentre outras. Mesmo com mais independência, o governo central ainda tinha força, já que ele tinha a prerrogativa de legislar sobre direito civil, comercial e criminal.
A primeira Carta Magna da República durou 39 anos, quando Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 e a suspendeu. Quatro anos depois, foi promulgado o texto de 1934, já com algumas mudanças em relação à Primeira República ao, pela primeira vez, assegurar direitos sociais.
Esse movimento ocorreu diante da República de Weimar na Alemanha, precursora do Estado de bem-estar social ao assegurar direitos trabalhistas ou à educação. Algumas coisas mudaram neste documento, como a criação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), centralizando a organização de pleitos no país.
É nessa Constituição que as competências privativas da União frente aos estados ganham força. Neste texto, o poder central passou a ser o único autorizado a manter serviço de correios, estabelecer plano ferroviário, traçar diretrizes educacionais e fazer o recenseamento da população, dentre outros.
Três anos depois, o texto foi revogado pela Constituição de 1937, outorgada na inauguração do Estado Novo. É completamente centralizadora, não apenas em atribuições, como em símbolos: ela chegou a proibir os estados de ter símbolos ou bandeiras. "Não temos mais problemas regionais; Todos são nacionais, e interessam ao Brasil inteiro", disse Getúlio.
Segundo o documento, o estado que não mantivesse as contas públicas no azul poderiam ser transformados em territórios pelo governo federal —neste caso, seriam administrados mais diretamente pelo poder central.
Os artigos 74 e 75 confeririam ao presidente da República poder de intervir nos estados e nomear chefes do Executivo estaduais, e criou o decreto-lei, editado pelo presidente e com força de legislação, na ausência do Congresso.
Findada a Era Vargas, a missão da Constituição de 1946 era retomar o pacto federativo e o regime democrático. Ela seguiu com certa centralização do poder na União por se inspirar no texto promulgado em 1934, retomando a independência do Legislativo e do Judiciário.
Os governadores também voltaram a ser eleitos, sem possibilidade de intervenção do poder central, podendo ter bandeiras, símbolos e hinos. As unidades federativas voltaram a poder instituir impostos e legislarem livremente ou de forma concorrente ao que a União regulamentava.
Administrativamente, tanto os estados quantos os municípios tinham autonomia para se organizarem politicamente e financeiramente.
Ela sobreviveu 21 anos, mas foi amplamente violada a partir do golpe de 1964, que editou o Ato Institucional número 1. Esse tipo legal, não previsto pela Carta Magna, suspendeu a lei máxima do país e deu aos militares controle sobre os partidos políticos, a estrutura política e institucional, o que centralizava o poder entre os fardados que comandavam o país.
O famoso AI-5 (Ato Institucional de número 5) foi o símbolo da centralização sob a ditadura: decretação de estado de sítio pelo presidente da República, dando mais poderes ao chefe do Executivo federal, além da autorização para intervir em estados e cidades, nomeando governadores e senadores, por exemplo.
Para consolidar juridicamente a ditadura militar, então, foi outorgada a Constituição de 1967, que dois anos depois foi quase toda editada em uma emenda constitucional em 1969. Em nome da segurança nacional, os Legislativos de todo o país, seja federal ou estadual, foram esvaziados, com o instrumento do decreto-lei voltando ao cenário jurídico brasileiro e em qualquer tema.
Ao final, mesmo com a Constituição cidadã e sua extensa carta de direitos, seja individuais, sociais ou difusos, especialistas ainda veem maior força federal perante os poderes locais.
Segundo Wallace Corbo, advogado e professor de direito constitucional da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), a Carta Magna atual é o modelo mais descentralizado de repartição de atribuições desde a Era Vargas, mas segue mantendo papel importante da União em questões nacionais.
A lista de competências do governo federal, segundo Corbo, ainda é ampla em resposta ao coronelismo visto na Primeira República, mas descentralizada. Ele vê atualmente uma descentralização atenta para evitar abusos locais.
"Embora o modelo atual seja mais centralizado que muitos outros pelo mundo, é menos centralizado do que já foi. O exemplo mais evidente disso ocorreu no período da pandemia, em que a União não foi capaz de impedir estados e municípios de adotarem as medidas de isolamento social."
Já Juliana Bastos, docente de direito constitucional da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas), ressalta que o texto atual segue a tradição centralizadora do país.
Ela diz que, na ditadura sob Vargas e no regime militar, a concentração de poder foi tanta que a organização como uma federação se tornava uma mera fachada legal. "A herança colonial e imperial centralizadora somada à necessidade de manutenção da unidade territorial são as razões pelas quais o modelo federativo brasileiro é centralizado", afirma.
"A verdade é que, com o número de atribuições da União, sobra pouca atribuição para estados e municípios. A título de exemplo, há um grande número de matérias onde somente a esfera federal pode legislar (portanto, definidas em âmbito nacional) como direito civil, penal e eleitoral", diz a docente.
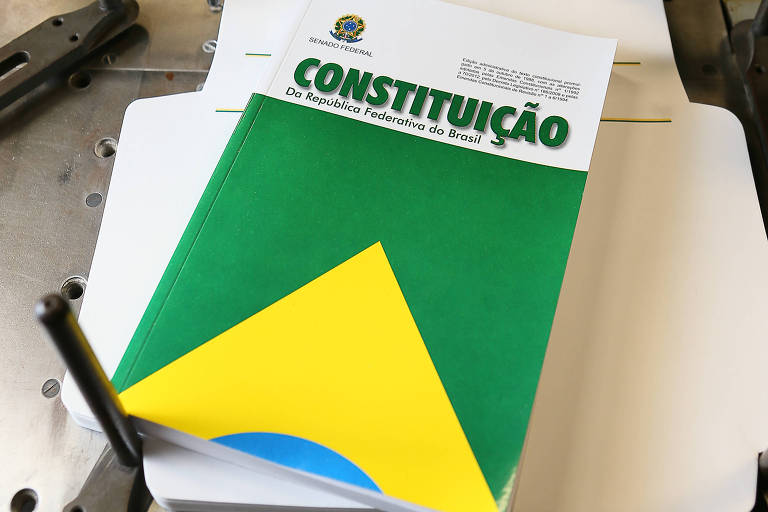
Nenhum comentário:
Postar um comentário