Devia ter pouco mais de 20 anos. Magrinha, negra, sorriso tímido, Maria do Socorro estava presa havia seis meses numa cela do "seguro", ala reservada para aquelas que não são aceitas para conviver com as companheiras de infortúnio, na Penitenciária Feminina de São Paulo.
Queixava-se de febre e dor de garganta. Não tinha a gíria nem a entonação de voz ou os trejeitos da bandidagem. Fiquei com a impressão de que não fazia parte do mundo do crime.
Quando retornou na semana seguinte, contou que vivia com a mãe no Grajaú, extremo da zona sul de São Paulo. A vida não era fácil. Além das obrigações domésticas, uma hora e meia para chegar no emprego, em Moema, duas horas para voltar. O transtorno maior, entretanto, era a desorientação da mãe:
"Anda muito esquecida. Não lembra se almoçou, tenho que vigiar o tempo todo, fechar o botijão de gás antes de ir para o trabalho. Quando sai de casa não acha o caminho de volta. Às vezes, uma vizinha acolhe, mas chego a passar horas atrás dela pela vila inteira".
Responsável pela manutenção da casa, a saída que Maria encontrou foi a de amarrar a perna da mãe com uma corda comprida, presa ao pé da mesa, de modo que ela pudesse se movimentar pelo quarto e sala em que moravam e chegar à porta, mas sem ir para a rua. Não deu certo.
"Uma vizinha me denunciou na delegacia. Vim presa."
Na cadeia foi rejeitada pelas companheiras, que não aceitam maus-tratos com pais ou filhos.
Conto essa história que se passou há cinco anos, cara leitora, para ilustrar o drama que as demências representam para as famílias, especialmente para as esposas, filhas e netas, porque é quase sempre sobre uma mulher que recai a obrigação de cuidar da pessoa doente, como mostramos na série que está no ar no Fantástico.
O Brasil envelhece. Segundo o IBGE, enquanto a população geral cresceu 6,5% no período de 2010 a 2022, naqueles com mais de 65 anos o aumento foi de 57,4% —quase nove vezes.
Os estudos sugerem que existam perto de 2 milhões de brasileiros com Alzheimer e outras demências. O Global Burden of Diseases calcula que seremos cerca de 7 milhões em 2050.
Essas estimativas são conservadoras. Doença de instalação insidiosa, ela costuma passar despercebida nas fases iniciais, especialmente porque parentes, amigos e a maioria dos médicos consideram a perda da memória consequência inevitável do envelhecimento. Vários estudos mostram que entre nós os subdiagnósticos ultrapassam 70% —nos Estados Unidos são mais de 90%.
A perda de memória, no entanto, não é o único nem o maior problema numa doença que pode evoluir com quadros psicóticos, crises de agressividade, insônia e agitação noturna.
Cuidar de pessoas com demência é um dos maiores desafios que o SUS enfrenta. Um familiar que depende de cuidados permanentes, sem contar com serviços públicos, obriga pelo menos uma mulher da família a sair do emprego para se dedicar a ele, em tempo integral. O estresse a que são submetidas essas mulheres só elas podem avaliar. Noites insones, esforço físico para amparar o corpo enfraquecido, incapaz de sair da cama, andar até o banheiro, trocar de roupa, comer sem ajuda e trocar as fraldas.
É uma tragédia que desestrutura a família inteira. Claro que é muito pior para os mais pobres, mas não se restringe a eles. Mesmo aqueles com recursos para contratar cuidadoras vivem dias tormentosos. Precisam contratar quatro funcionárias, uma para cada jornada de oito horas e outra para cobrir as folgas. A casa vira uma pequena empresa, que interfere com a dinâmica familiar, separa casais e gera conflitos.
As mulheres têm lutado para que as cidades abram creches para deixar as crianças enquanto trabalham. Está mais do que na hora de criarmos espaços ambulatoriais para deixar durante o dia os doentes que estão nas fases mais iniciais do quadro demencial, para que esposas, filhas e netas possam trabalhar ou fazer o que bem entenderem.
Nesses locais, eles vão se beneficiar do convívio social e receber estímulos cognitivos para retardar a evolução da doença. Numa enfermidade que leva à morte em sete a dez anos, em média, quanto mais tempo os pacientes consigam manter autonomia, melhor.
E o que fazer nas fases mais avançadas, quando a cognição já foi para o espaço e o corpo se tornou um fardo insuportável? Manter a qualquer preço um corpo inerte, trancado num mundo impenetrável, é o melhor que podemos fazer? Vamos discutir esse tema na próxima coluna.
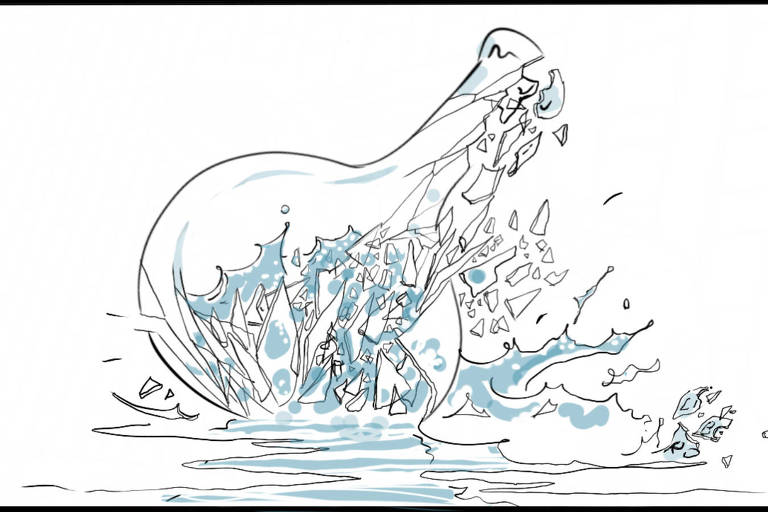
Nenhum comentário:
Postar um comentário