Deve haver um fundo de masoquismo ao se ler sobre o nazismo bem agora: como se não bastassem as atrocidades do presente. Ou talvez o que se queira seja uma comparação reconfortante: perto da dor dos europeus no Reich de Mil Anos, a dos brasileiros é fichinha.
Pode não ser nem uma coisa nem outra, e sim querer aprender com o passado. Contra essa insensatez, porem, o primeiro a se insurgir foi Hegel em pessoa, quando disse que a única coisa que se aprende com a história é que ela nada ensina.
A Alemanha de 1941 e o Brasil de 2021 não têm coisa alguma em comum. Hitler e Bolsonaro são animais heteróclitos, por mais que o capitão ame o cabo. Toda analogia histórica tende à tolice, em suma. Mas quando o livro é bom, aprende-se muito com o nazismo.
É o que ocorre com “Diários de Berlim: 1940-1945”, publicado pela Boitempo com tradução e notas primorosas de Flavio Aguiar —e contracapa de Antonio Candido, que empregou as palavras “revelação” e “fascínio”.
Sua autora, Marie Vassiltchikov, começou a escrevê-lo com 23 anos. Era uma princesa no sentido real e no figurado. Nascida em berço nobre e russo, fugiu da revolução de 1917 e saltou de país em país até se fixar em Berlim, onde foi tradutora na chancelaria do 3º Reich.
Tinha a candura e a altivez que se atribuíam à aristocracia —afora que era linda. Doente terminal, só consentiu em publicar seus diários pouco antes de morrer, em 1978, com a condição que não lhe
alterassem uma vírgula.
O que chama a atenção neles é a vivacidade. Marie se chateia porque o governo só autoriza tomar banho no fim de semana; cobiça roupas bonitas; queixa-se do chefe; reclama da comida; anda de metrô para lá e para cá. Vive o cotidiano de uma jovem inteligente e espirituosa.
Mas os “Diários” são muito mais que um registro perspicaz. É com verve de escritora que ela retrata um mundo se desintegrando. De fato, três mundos: o da fina flor do Velho Continente; o da Berlim estuporada pelos bombardeios; o da oposição da elite a Hitler.
É esse último mundo que pode interessar mais os brasileiros. Marie acompanhou lateralmente, e torcendo o tempo todo pelo seu sucesso, o atentado de 20 de julho de 1944, no qual um coronel da alta roda prussiana, o conde Claus von Stauffenberg, liderou um complô para assassinar Hitler.
O patriciado militar, que festejara ruidosamente a ascensão nazista, veio a se horrorizar com o ímpeto genocida de Hitler. Como não havia espaço político para mobilizar a opinião pública e barrá-lo, um grupo de oficiais organizou um atentado e um golpe de estado, a Operação Valquíria.
O nome da operação se referia às divindades que recolhiam os corpos de heróis tombados nos campos de batalha. Ela fora concebida pela própria ditadura nazista. Seu objetivo era organizar tropas da reserva e fazer frente a uma eventual revolta —Hitler mesmo a chancelara.
Os conspiradores o matariam, tomariam o poder e assinariam a paz. Stauffenberg entrou na toca do lobo e detonou a bomba. Mas o cabo, que Marie chama de Demônio, sobreviveu. Kaputt a cavalgada —o conde e seus golpistas foram passados nas armas.
Agora, o Brasil da elite. Banqueiros e chefões do Congresso andaram murmurando contra o Capetão. “Mandaram recado”, “falaram duro”, “sinalizaram” —um chorrilho de clichês descreveu o pocotó das valquírias, pois que circunscrito a muxoxos, lamúrias e uma missiva suavíssima.
A cantilena dos fidalgos disse o seguinte ao Exterminador: vamos levar um papo, querido. Tanto que um dos que fizeram beicinho e ameaçaram ficar de mal foi Aécio Neves. Cuidado com ele. Se chateado, ligará para o açougueiro da JBS e pedirá uma mala de tutu com torresmo.
A sério: nossas valquírias até poderão conseguir a cabeça de uma dessas mulas sem cabeça que assombram Brasília. Botarão um jumento sem cabeça no seu lugar, farão bons negócios —e vida que segue.
Isso é o oposto exato de estancar a carnificina em andamento. Para tanto, seria preciso tirar o assassino em massa do Planalto. Ponto, parágrafo.
A nata militar poderia, sim, derrubá-lo. Mas ela teria de ter aquilo que sobrava entre os da estirpe de Stauffenberg —coragem, noção de pátria, civismo, a crença que a derrota é o de menos. Numa palavra, heroísmo. Ao receber a ordem de fechar o Congresso, o herói responderia ao vilão:
“Não. O senhor e sua família têm uma hora para ir ao aeroporto, onde um avião da FAB os levará a Israel. Se se recusar, será preso, processado e julgado por genocídio".

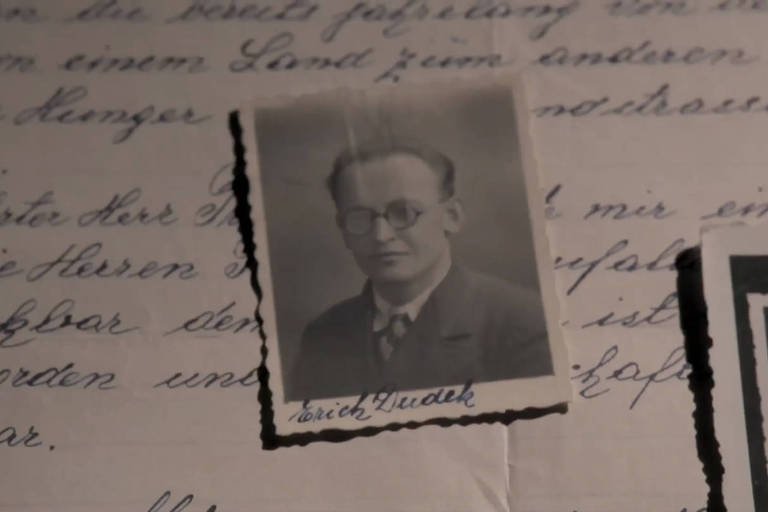

Nenhum comentário:
Postar um comentário