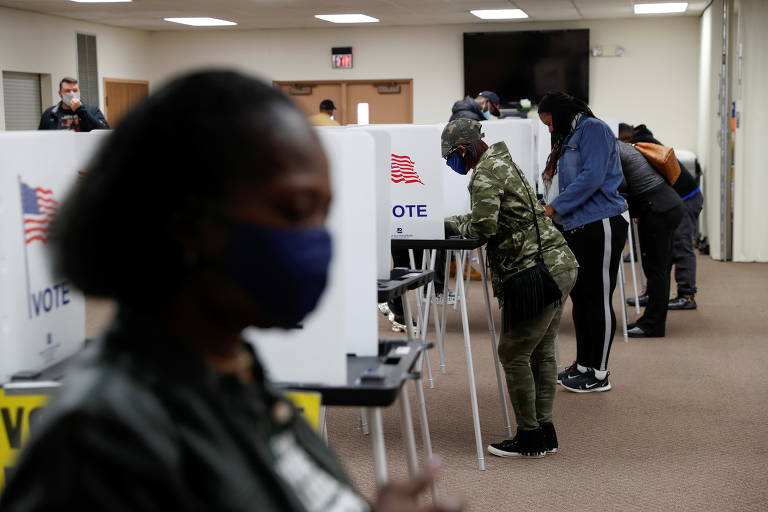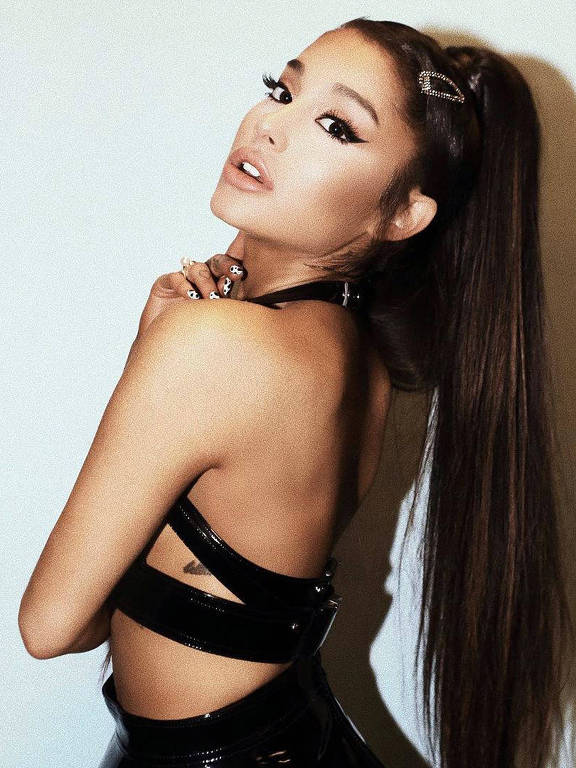3.nov.2020 às 23h15
O Brasil perdeu importância estratégica para os Estados Unidos desde os anos 1970, quando os americanos passaram a adotar uma política mais protecionista em relação a produtos agrícolas e manufaturados exportados pelos brasileiros.
A postura não mudou muito ao longo dessas cinco décadas, fosse republicano ou democrata o ocupante da Casa Branca. Eventuais avanços em favor do Brasil vieram da habilidade para negociar do Itamaraty e do Palácio do Planalto. A eleição atual pode ser histórica em muitos aspectos, mas dificilmente vai mexer nessa balança.
A análise é de quem acompanha as relações comerciais entre os dois países. Olhando para frente, cresce o papel do Brasil.
A permanência de Donald Trump seria um pouco da repetição do que se viu nos últimos anos. Uma vitória de Joe Biden, por sua vez, até tem potencial para mudar o cenário para melhor, ampliando as relações comerciais entre Brasil e EUA –mas apenas se governo brasileiro adotar uma política externa mais pragmática e alinhada em questões como meio ambiente e comércio exterior.
O professor Felipe Pereira Loureiro, do Núcleo de Estudos em Política e Economia Internacional da USP, afirma que, em um possível governo Biden, duas questões que podem afetar as relações comerciais entre os dois países são a ambiental e a guerra comercial com a China.
"Eu não vejo um governo Biden levando a questão climática ao extremo, com sanções a produtos brasileiros e investimentos no Brasil, porque a questão da crescente penetração econômica, financeira e tecnológica chinesa na América Latina também vai ter papel crucial. Deve haver equilíbrio entre os dois temas e, se o Brasil aproveitar bem, teria oportunidades interessantes."
Para ele, isso dependeria de o governo Bolsonaro ser mais pragmático na política externa.
"O afastamento entre os dois países tem início nos governos Costa e Silva e Médici e ganha contornos maiores no governo Geisel. Na questão comercial, o Brasil começa a ter dificuldade para venda de certos produtos no mercado norte-americano, principalmente manufaturados leves, café solúvel, têxtil, sapatos, e os EUA criando limitações de quantidade e aplicando tarifas de maneira discriminatória, gerando problemas que não existiam no governo Castelo Branco", afirma.
Para ele, as relações comerciais com o Brasil deixaram de ser prioridade para o alto escalão norte-americano e foram dominadas pela burocracia e por grupos de pressão junto ao Congresso dos EUA.
Segundo ele, o saldo nestes dois anos de governo Bolsonaro não foi positivo.
Na avaliação do professor de economia da FEA-USP Fernando Botelho, um governo com previsibilidade será sempre melhor para as empresas. "Empresário odeia incerteza. E o problema de Trump é essa imprevisibilidade extrema. Ele não tem o menor problema em jogar aliados debaixo do ônibus", diz.
"As vantagens da parceria do Brasil com os EUA nesse governo foram pífias, chegamos até a tomar sobretaxa em produto no último mês", afirma.
Os produtores de alumínio brasileiros foram surpreendidos no início de outubro com a imposição de sobretaxa para as importações pelos Estados Unidos.
Esse tipo de ação não deve ser esperado de Biden, diz Botelho. Em sua visão, o empresário brasileiro não deve se preocupar com um governo democrata, mesmo que haja desalinhamento político entre os países.
"Não acredito que Biden venha a ser muito mais protecionista que Trump. O que pode impactar nossa economia é a questão do meio ambiente, com restrições de produtos brasileiros, por exemplo. Mas já temos uma previsão de como será a postura dele em relação a esse tema."
Botelho afirma ainda que, além de os países concorrerem em alguns segmentos, o Brasil perdeu relevância na última década. "Não estamos falando de economias que se complementam, como Brasil e China hoje. O mercado [consumidor] até que é grande, mas vive em instabilidade."
Renê Medrado, diretor do Ibrac (Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional) e sócio do Pinheiro Neto Advogados, diz que, historicamente, os republicanos são mais pró-comércio, e os democratas, mais protecionistas. Já há algum tempo, porém, isso vem mudando.
"Os democratas, desde Clinton, têm mostrado mais propensão ao comércio. Por outro lado, o Trump fez muito mais uma política unilateralista, aplicando sanções econômicas contra os países que entendia não serem parceiros fiéis. Isso já ocorreu com os republicanos também nos anos de 1980 [sob Ronald Reagan]."
Medrado diz que, no aspecto comercial, a vitória de Biden seria mais vantajosa ao Brasil. "Nenhuma das campanhas deu sinal de como irá seguir em relação à parceria conosco. O que sabemos é que, historicamente, para nós é sempre melhor que o governo dos Estados Unidos seja favorável ao multilateralismo. E o governo atual abandonou a cooperação internacional."
Medrado também vê o tema ambiental tendo mais atenção sob Biden. Mesmo assim, sua avaliação é que os governos de ambos países se ajustem.
Segundo ele, o Brasil deu um passo deixado de lado pelos governos petistas, que não viam essa aproximação como prioridade.
"Agora temos três pactos firmados com os EUA, mas isso é o início de uma relação bilateral. Mesmo que exija uma reorganização do acordo, para um melhor alinhamento entre os governos, não acredito que isso possa impedir bons resultados para as empresas exportadoras."