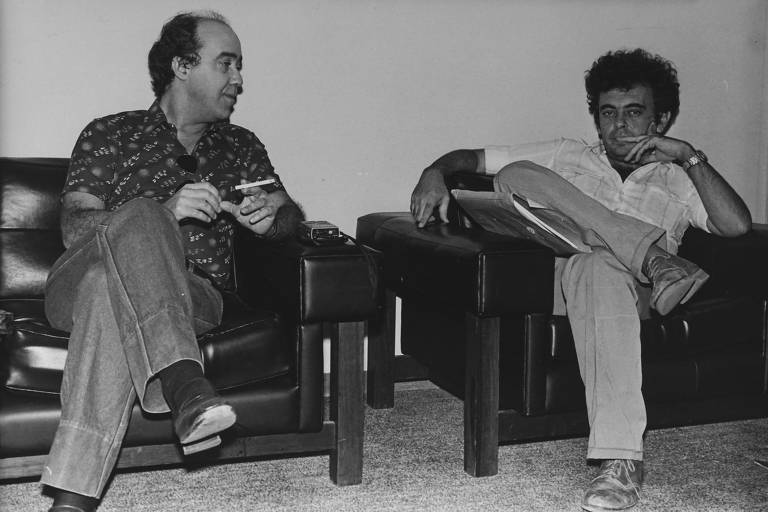No domingo (29), a cidade de São Paulo decide se reelege o santista Bruno Covas ou vira o jogo com o corintiano Guilherme Boulos.
No plano de governo Covas não há uma linha sobre a prática de esportes na cidade; no de Boulos há duas páginas. Claro que é melhor não falar nada do que falar besteiras, mas não se trata disso, porque são ousadas e participativas as propostas do candidato oposicionista.
No Corinthians, o panorama não é tão claro.
A começar pelo fato de que há duas chapas situacionistas, a da continuidade do modelo Andrés Sanchez e a de Augusto Melo, contaminada por empresários de jogadores.
De oposição mesmo é a de Mário Gobbi, presidente entre 2012 e 2014, quando o time de futebol ganhou tudo e o clube passou ao largo das páginas policiais.
Aliás, é curioso: embora delegado de polícia, e, aleluia!, talvez por isso mesmo, o noticiário sobre jogatina, seja a do bicho ou a do bingo, sonegação fiscal, propinas, envolve exatamente os situacionistas. Gobbi passa ileso.
Ele promete e se compromete com o modelo de gestão profissional sem concessões à velha prática de loteamento de cargos, objetivo imprescindível, embora desafio gigantesco diante dos usos e costumes nos clubes associativos brasileiros. Será ver para crer, e cobrar, caso vitorioso.
Insistir no esquema de Sanchez, dos desmanches a que submeteu o Corinthians, levará inevitavelmente ao processo vivido atualmente pelo Cruzeiro.
E Melo cumpre apenas o papel de tirar votos oposicionistas ao apostar na confusão.
A eleição deste sábado é a mais importante em Parque São Jorge desde 1985, quando o reacionarismo e interesses inconfessáveis dos conselheiros derrotaram a Democracia Corinthiana. Então, sem o voto dos sócios, a chapa vitoriosa teve de fugir pelos fundos do clube, tamanha a ira da torcida.
Registre-se que o presidente daquele histórico período, entre 1981 e 1985, Waldemar Pires, apoia Gobbi.
Na última eleição, que redundou em novo período Sanchez, o ganhador teve de se esconder no banheiro feminino.
O resultado é o que está aí para quem quiser ver: situação pré-falimentar e o time na luta contra o rebaixamento, como aconteceu no primeiro mandato de Sanchez, em 2007.
O dramaturgo irlandês Bernard Shaw já ensinou que “O sucesso não consiste em nunca cometer erros, mas em nunca cometer o mesmo erro pela segunda vez”. Pela terceira, então, nem é bom falar.
Ao Corinthians resta não insistir no desastre e trilhar o caminho do saneamento financeiro para buscar, adiante, bem adiante, ser autossustentável, com a clareza de que precisa mudar seu modelo de gestão e ingressar no século 21 ao passar a administrar o futebol como empresa.
Sócios, conselheiros, vitalícios, remidos, quadrienais ou o diabo a quatro, podem e devem votar sobre como administrar a piscina, a quadra de tênis, de bocha, o bar, restaurante, o ginásio poliesportivo. O futebol não é mais tema para amadores decidirem e não pode ser meio de enriquecimento de cartolas, com as exceções de praxe, malsucedidos em suas vidas profissionais.
Os corintianos que votarão para prefeito certamente não terão comportamento unânime entre, felizmente, dois democratas para escolher.
Os que votarão para presidente não têm motivo algum para duvidar sobre como votar e quem eleger.
Desde que o objetivo seja só o bem do Corinthians.
Erramos: o texto foi alterado
A eleição citada pelo colunista ocorreu em 1985, não em 1984, como o texto dizia inicialmente. A informação foi corrigida.