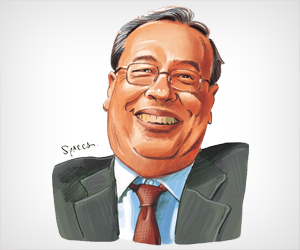
O Judiciário é hoje o controlador das políticas públicas sociais no Brasil. Mas não deveria ser, pois não é o formulador de projetos e nem foi eleito para isso. Excessivamente politizada, a Justiça se colocou no lugar da administração pública e do Legislativo, analisa
Elival da Silva Ramos, que acaba de deixar o cargo de procurador-geral do estado de São Paulo.
Agora aposentado, Ramos esteve por 37 anos na Procuradoria do estado de São Paulo, 12 deles no cargo de procurador-geral. É homem de confiança de Geraldo Alckmin, que o nomeou para o cargo em 2011, depois de ter exercido o comando da Procuradoria de 2001 a 2006, na outra gestão de Alckmin.
Mestre e doutor em Direito do Estado e livre-docente em Direito Constitucional pela USP, sua linha de pesquisa está centrada no estudo dos sistemas de controle de constitucionalidade das leis e omissões legislativas.
Ramos afirma que o Supremo Tribunal Federal tem avançado o sinal e que, agora, aposentado da Procuradoria, poderá emitir opiniões de forma mais livre.
Além de dar um panorama da atuação da procuradoria no ano que passou, ele diz que boa parte da inviabilização do modelo brasileiro do Estado passa pelo ativismo de juízes. “O Judiciário está imputando um custo ao Estado fenomenal em várias coisas. A gente briga o tempo todo. Mas aí não é a questão dos argumentos do Estado serem piores ou melhores, é questão ideológica, eu diria. O Judiciário brasileiro assumiu indevidamente outro papel.”
Recebendo em seu gabinete a equipe do
Anuário da Justiça, que o entrevistou para a edição do
Anuário São Paulo 2018, com lançamento em breve, Elival Ramos fez um balanço das finanças de São Paulo, conta que “pagou” mais de R$ 3 bilhões de precatórios em 2017 e acredita que, até 2024, prazo dado pela Emenda Constitucional 99/2017, o estado terá sua dívida de precatórios quitada. Ele também explica por que as finanças de São Paulo estão em uma situação bem diferente de outros estados em crise.
Leia a entrevista:
ConJur — Como foi o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado em 2017?
Elival da Silva Ramos — Nós atuamos em três áreas fundamentais. Na área de consultoria, que é a área extrajudicial, tivemos um avanço muito grande nas concessões. Foi um período de praticamente três anos de arrecadação de valor real em queda. Em São Paulo, só não houve maior problema porque praticamos um ajuste fiscal rigoroso, envolvendo corte de despesas, que também contou com a participação da Procuradoria, na revisão de contratos, na apreciação de casos concretos que surgiram... Isso fez com que nós conseguíssemos, digamos assim, uma curva próxima entre a queda de receita e as despesas praticadas. Isso que viabilizou ao estado continuar, por exemplo, honrando a folha de pagamento, pagando antecipadamente o décimo terceiro salário.
Ao mesmo tempo, já partindo para o setor tributário-fiscal, claro que nós procuramos alavancar a receita e, para isso, foi importante um esforço muito grande em conjunto com a Secretaria da Fazenda. E, de fato, melhoramos. Terminamos o ano com uma arrecadação próxima de R$ 4 bilhões, arrecadação de dívida ativa. A Procuradoria vem melhorando seus índices nesse campo. Quando assumi o cargo de procurador-geral na primeira gestão, lá nos idos 2001, a arrecadação da nossa dívida ativa era da ordem de R$ 600 milhões. De novidade nesse período, nós tivemos a implantação do protesto, que corresponde a cerca de 60% da nossa arrecadação.
ConJur — É um protesto que vai direto para o cartório, que não passa pela Justiça?
Elival da Silva Ramos — Sim. Quase todo IPVA é cobrado mediante protesto. IPVA é tipicamente uma dívida boa para usar o protesto. Nós não temos uma enxurrada de pedidos de sustação de protesto, por exemplo. E são dívidas de um valor menor, aos milhares, muito pulverizada. Se não fosse assim, nós estaríamos ajuizando aí um volume imenso de execuções fiscais. É difícil estimar. Mas nós temos uma carteira de execuções da ordem de um 1,3 milhão de execuções. Hoje, com a decisão do STF, acabou-se a discussão. Eu fui ao Supremo fazer a sustentação oral e um dos pontos foi esse: a orientação do Judiciário é a desjudicialização em tudo, usando a arbitragem, usando mecanismos consensuais, acordos e tal. O protesto é fundamental nesse trabalho, na dívida ativa.
São Paulo deve ter hoje o melhor índice nacional de cobrança. Se desconsiderar as dívidas que nós mesmos consideramos de difícil possibilidade de recebimento, que é contribuinte que já tem o CNPJ inativo por alguma razão, a empresa não funciona mais, se descontar tudo isso, o estado deve estar recebendo algo em torno de 2,5%, 3% anual. O que é um índice altíssimo. A média nacional é 0,5%. Então é seis vezes a média nacional. Ou seja, são bons resultados.
ConJur — E no setor fiscal?
Elival da Silva Ramos — As batalhas são muitas. Nós temos a frente em que o Estado é devedor e a frente em que ele é credor. Mas, em relação ao Estado devedor, o contexto geral é mais dessa natureza, nós temos um contencioso importante que nos envolve com as concessionárias das rodovias. São ações em que pedem reequilíbrios contratuais — em que nós temos vencido invariavelmente —, algumas questões envolvendo compensação geraram demandas. Temos ações contra as 12 concessionários do estado de São Paulo. Das nove julgadas, ganhamos seis e perdemos três.
É claro que também há algumas questões de desapropriação, a importância de programas do Estado, de PPPs em que o Estado está envolvido. O quadro de ações indenizatórias de servidores melhorou bastante, porque nós procuramos ao longo dos anos, usando a área de consultoria, diminuir essas demandas. E, internamente, nós melhoramos nossa informatização, porque ela já era muito boa no setor fiscal, mas ainda não existia na área de consultoria, isso se implantou. Não foi só esse ano, já vem vindo de outros anos, mas avançou bastante, também com o programa de contenção geral. Temos melhores condições de saber em quê o Estado está sendo mais derrotado, os temas mais importantes.
ConJur — Quais temas o Estado vence e em quais é derrotado?
Elival da Silva Ramos — Depende. As ações em que o Estado se envolve são ações de pessoal, ações de medicamento, normalmente o estado é derrotado. Não o estado, o município, a União. Essa é uma questão que é um problema importante para o Brasil. Hoje temos práticas de saúde pública de primeiríssimo mundo por força de decisões judiciais, só que isso tem um custo. E, em razão disso, talvez não se consigam fazer outros investimentos. Nós estamos aqui em São Paulo vivendo a epidemia de febre amarela. Já tivemos dengue, são doenças de países pobres, não compatíveis com o nível de riqueza do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem tratamentos sofisticadíssimos, todos com ordem judicial, que o SUS, as entidades ligadas ao SUS, cumprem.
Isso está mal colocado. Nós temos que ter um país mais justo, em que aquelas questões que atingem a totalidade da população tenham mais investimento. E os tratamentos sofisticados não podem ser gratuitos, a pessoa tem que ter um custo para fazer isso. Tem tratamento dado pelo SUS que é o padrão, claro que aquilo não é o melhor dos tratamentos, mas é aquilo que é possível pagar dentro da realidade do SUS. Se a pessoa quiser algo a mais do que isso, tem todo o direito, mas pagando.
O Poder Público não é obrigado a fazer. Infelizmente, o Judiciário não pensa assim. O Judiciário brasileiro passou a entender que a saúde é um direito fundamental — como é, de fato — mas que isso não tem custo, então determina os tratamentos mais exóticos do mundo. Manda dar fralda geriátrica com marca, medicamentos experimentais... O que avançou nesse campo foi que a Secretaria da Saúde e o Tribunal da Justiça, enfim, as entidades envolvidas, estabeleceram uma fase aí pré-processual, vamos dizer, para ver se a gente não consegue atender algumas demandas. Em alguns casos é problema de acesso à informação.
ConJur — O Acessa SUS?
Elival da Silva Ramos — Exatamente. Então a Secretaria da Saúde, o Ministério Público, o Judiciário celebraram um termo de cooperação. Esse é um tema em que o Estado é normalmente derrotado. É um julgamento liminar que prevalece.
ConJur — Como estão as demandas de servidores?
Elival da Silva Ramos — No funcionalismo há um quadro melhor. Nós temos evitado criações de novas gratificações. Resolvemos algumas demandas importantes já anteriormente. Até hoje existem ações, por exemplo, envolvendo incidência de quinquênio, sexta parte, os adicionais quinquenais, temporais, sobre gratificações que o estado não acha que é gratificação. Muitas vezes é discutido se é a autêntica gratificação ou apenas o nome que é de gratificação e é vencimento. Há ainda algumas condenações nesse campo. Muitas questões envolvendo trânsito. Isso tem aumentado bastante. Para se ter uma ideia, nós tivemos que criar um núcleo especializado dentro do Detran porque aumentou tanto, e a demora, a tramitação de informações, tudo, já era um negócio que dificultava a defesa. Nós estamos tentando centralizar ali ações do estado inteiro, porque, tudo é eletrônico. Um advogado que é daqui pode trabalhar em uma ação que corre em Presidente Prudente. E o Detran daqui centraliza as informações. Esse é um campo muito grande.
ConJur — Como estão os pagamentos de precatórios?
Elival da Silva Ramos — Precatório é outro trabalho, porque é na fase de execução. Não importa nem a natureza da dívida, mas em geral são alimentares, que também é boa parte dos nossos trabalhos. O poder público em geral tem que ter um compromisso com a eliminação do passivo. Há muitos anos isso gerou soluções não adequadas. O STF deu uma data concreta, era 2020. Agora é 2024 [pela Emenda Constitucional 99/2017]. Não daria para cumprir até 2020, ainda mais com os recursos existentes, que é 1,5% da receita corrente líquida.
O que a Emenda mais recentemente fez foi agregar recursos privados.O Estado vinha já fazendo isso com as ações das quais participa. Se ele tem, por exemplo, uma ação fiscal, poderá ganhar ou perder. Muitas vezes o contribuinte faz o depósito para garantir, não tem problema de execução, e vamos aguardar julgamento de mérito. O que o Estado fazia era utilizar esse recurso e, depois, se perder, devolver com os acréscimos, como se fosse um empréstimo. Mas paga juros de poupança, os juros das contas judiciais, o que é muito mais em conta do que tomar isso do mercado. De outra maneira, se não fizesse isso, quem ficaria com o lucro seriam as instituições financeiras, porque elas emprestam a juros de mercado, que são juros altíssimos, e pagam juros de poupança. Às vezes, divide isso com o Judiciário também, dependendo dos acordos que tenha. Esses seriam os setores que perderiam com essa proposta.
A ideia é ter mais recursos para poder, efetivamente, cumprir o que o Supremo decidiu. A pior coisa é ter decisão judicial não cumprida, ainda mais do STF. Nós temos aí propostas que somam R$ 1 bilhão. Isso significa, só nesse começo de ano, teríamos uma economia para o estado de São Paulo, caso venha a ser formalizado e o Judiciário homologue, R$ 400 milhões. Para que servem esses R$ 400 milhões? Para pagar mais precatório. Com isso, a dívida vai sendo quitada e chegaremos em 2024 com condições de pagar. Mas a novidade foram recursos privados. Já em 2016 havia uma emenda aprovada prevendo isso, mas o Senado fez o favor de colocar uma cláusula que inviabilizou completamente o uso dos recursos. Colocou que não permitia a utilização de recursos de processos de natureza alimentar. Acontece que os bancos não sabem qual é a natureza do processo. O mais importante é dizer que poderão usar esses valores, que não entram para o 1,5%. São recursos adicionais.
Em 2017, batemos o recorde nominal de pagamento do precatório, mais de R$ 3 bilhões. Quase o dobro. Se somar as OPVs, aquilo que também nós vínhamos sempre levando um saldo de OPVs do ano anterior, esse ano não deixamos saldo. Quitamos. Então tem mais de R$ 700 milhões aí, um valor alto. Somando tudo, deu quase R$ 4 bilhões, OPV e precatório. É muito dinheiro. O estado hoje tem uma dívida da ordem de R$ 23 bilhões, é entre 15% a 20% da dívida que está quitando em um ano. É um esforço grande. Lógico que, agora, com recursos privados, estima-se que o estado de São Paulo vá receber por volta de R$ 6 bilhões desses recursos. Se isso ocorrer, ajudará na implementação de mais acordos.
ConJur — O senhor é a favor de pagar dívida com precatórios?
Elival da Silva Ramos — A objeção da PGE, em geral, em relação a esse tema, sempre foi por uma razão: parte do ICMS vai para o município. Se a empresa faz uma compensação, libera aquele precatório, como se tivesse recebido aquela dívida. O efeito no precatório vai ocorrer. Acontece que o estado tem que repassar, pois, em tese, o município não tem nada a ver com isso. E a Emenda exclui esse repasse. Por isso, passamos a ser favoráveis. Agora, pelos nossos cálculos, feitos a pedido do TJ-SP, o estado de São Paulo — acho que, nominalmente, tem a maior dívida do Brasil — conseguirá quitar a sua dívida precatória até 2024, já considerados os precatórios novos. Como sempre diz o governador, vai ser muito bom ser governador do estado a partir de 2025. Não vai ter precatório mais. E a receita de royalties vem aumentando muito, São Paulo é o segundo estado da Federação em valor nominal de royalties, só perde para o Rio de Janeiro.
ConJur — Do petróleo?
Elival da Silva Ramos — De gás, basicamente, no estado de São Paulo. Então, a tendência com a exploração do gás da bacia de Santos, cuja reserva é monumental, é a mudança da matriz energética do estado de São Paulo e o recebimento de royalties. Vai subir a receita de royalties, mas, pelos nossos cálculos, também vai ter mais aposentadorias, aumentando a dívida previdenciária, mas uma coisa vai caminhando junto a outra. Assim, o estado de São Paulo não é um mar de rosas, mas tem uma situação hoje financeiramente equilibrada.
ConJur — Como vê a reforma da Previdência?
Elival da Silva Ramos — Eu acho que a reforma da Previdência é algo absolutamente estratégico e necessário para o país. Não acho isso de agora não. Não é por causa do atual governo. Eu lembro que desde 1995 esse tema entrou no Brasil. Eu me lembro do ministro Reinhold Stephanes, que era do governo Fernando Henrique Cardoso, fez umas publicações mostrando que estava havendo uma alteração da pirâmide populacional, que a população estava envelhecendo. Entre outras coisas, isso significa que entra menos gente no mercado de trabalho, portanto tem menos contribuições e mais benefícios. Isso não fecha a conta. Ou seja, nós vivemos, em matéria previdenciária, durante muito tempo, uma espécie de corrente da felicidade. Como o Brasil é uma população jovem, está entrando um monte de gente, trabalhando, tem muita informalidade, então vamos trabalhar para a formalização. Isso faz com que as pessoas entrem e comecem a pagar. A expectativa de vida também era muito menor, então a fechava durante algum tempo.
ConJur — É um remédio amargo...
Elival da Silva Ramos — Não é muito gostoso tomar, em um Congresso que tem como função representar a sociedade como um todo, não é? Só funciona se for feita, previamente, uma reforma política para reduzir o número de partidos. Com muitos partidos, temos a irresponsabilidade política. Ninguém se sente responsável por nada. Não há um vilão para ser apontado como responsável pela derrota do governo no Congresso. A melhor coisa que poderia acontecer para o interesse público é o governo desistir de votar essa reforma agora, até ter um ministro novo no governo que possa, eventualmente, fazer um rearranjo, compor sua base em outros termos. Aí será possível uma reforma real, consistente.
ConJur — Há quem conteste que a Previdência é deficitária. Dizem que é uma manipulação de cifras pelo governo. Qual a sua opinião?
Elival da Silva Ramos — É deficitária. O problema é que tem um enorme número de servidores que entraram antes da mudança na lei e não contribuíram jamais. Aqui em São Paulo, até 2003, não é tão antigo, a contribuição que o funcionário fazia era 6% do vencimento. Só 6% para a pensão dos dependentes. Não pagava nada para a aposentadoria. Zero. E se aposenta com integralidade de vencimentos. Um juiz se aposenta aqui em São Paulo, provavelmente pelo teto, será R$ 33 mil por mês, tendo contribuído só a partir de 2003. Aí sim passou a contribuir com 5% disso. Essa conta não vai fechar nunca. Não tem como. Precisa aumentar a idade para aposentar, como todos os países aumentaram. Na Europa já está chegando aos 70 anos, no Brasil, em um primeiro momento não vai chegar a tanto, mas vai acabar chegando mais para frente. Tem que caminhar na equalização da previdência pública com a privada.
ConJur — No ano passado, a PGE precisou desembolsar cerca de R$ 1 bilhão com condenações em saúde. Os gastos continuam nesta faixa?
Elival da Silva Ramos — Tem crescido no estado, mas na União tem crescido mais ainda. O estado tem um valor alto, expressivo no seu orçamento, a título de despesas com saúde.
ConJur — A defesa da Fazenda não é muito genérica?
Elival da Silva Ramos — É, de fato. A pessoa mostra que está doente e que existe um medicamento para aquilo, mas não está na lista do SUS. A grande controvérsia na judicialização da saúde, em geral, é essa. Tem duas maneiras de ver isso. Antes a gente argumentava pela "reserva do possível", afirmando que não tinha orçamento. Era uma defesa padrão. Hoje, a grande tese do Estado, do poder público, é a seguinte: não existe um único medicamento ou um único tratamento para cada moléstia, há várias possibilidades. Tem que combinar uma estratégia no setor público, de saúde pública, que envolva custo do medicamento e envolva eficácia. Mas é importante que o Judiciário concorde com isso.
No fundo, a única possibilidade de ganhar uma causa dessa na Justiça é assentar-se que não cabe ao Poder Judiciário interferir na discricionariedade técnica-administrativa de montagem de um sistema de saúde pública que vai, evidentemente, para cada agravo, prescrever um tratamento, levando em conta custo e eficácia do medicamento. O que a maioria dos juízes aceita é a prescrição de um médico contratado falando que um medicamento importado é melhor que o tratamento que o SUS disponibiliza. Às vezes [o remédio] nem é registrado na Anvisa. Muitas vezes, foi registrado há tão pouco tempo que não teve sequer análise do SUS. O juiz então defere uma liminar, depois concede a sentença. Mas a questão principal é que o juiz não pode fazer isso. Só se faz isso em países como África do Sul e Colômbia, que são ativistas judiciais.
ConJur — Caímos no ativismo judicial, sobre o qual o senhor já escreveu...
Elival da Silva Ramos — É uma questão séria, e não é só para o direito à saúde. A mesma questão envolve o direito à moradia e outros direitos sociais. A princípio, deveria ser assim: o poder público tem uma estratégia de implantação que leva em conta o planejamento para o futuro. Nisso, não pode dar tudo para todos. Então vai escolher o que é mais grave, descobrir o que é mais urgente. No fundo, tinha que melhorar a nossa discussão democrática do orçamento. O que é prioritário? Vamos dar moradia? Ou vamos resolver vacina? Agora, o Judiciário, que não tem compromisso com o fechamento dessas contas, vem, analisa individualmente e diz que "é justo que as pessoas tenham moradia”. Também acho. É justo que todos tenham acessibilidade, todos tenham isso e tenham aquilo. Mas o custo disso não fecha. Vamos ter um Estado inchado, endividado.
Boa parte da inviabilização do modelo brasileiro de Estado passa pelo ativismo judicial. O Judiciário está imputando um custo ao Estado fenomenal em várias coisas. A gente briga o tempo todo. E aí não é a questão de os argumentos do Estado serem piores ou melhores, é questão ideológica, eu diria. No fundo, o Judiciário é o controlador da política pública de prestações sociais. Ele não é o formulador de políticas públicas e nem é o responsável por isso. Não é o Judiciário brasileiro o responsável por resolver a questão de saúde. Não é o Judiciário brasileiro o responsável por resolver a questão de habitação. É o legislador, é o administrador. O Judiciário deve controlar para que isso seja feito com isonomia, com segurança jurídica.
ConJur — O Judiciário brasileiro assumiu indevidamente esse papel?
Elival da Silva Ramos — Ele se auto-impôs esse papel, porque isso dá matéria na imprensa, isso dá poder social. O magistrado aparece como Robin Hood. Essa é a realidade. Um amigo meu juiz diz que a Fazenda está em dificuldade porque os juízes gostaram de ter poder. Porque antigamente, alguns casos só se resolviam cobrando que um deputado apresentasse um projeto de mudança na lei ou fazendo uma manifestação na frente do Palácio, para ver se o governador ou prefeito se sensibilizava, Pressionavam partidos, faziam movimento. Agora, a solução é achar um advogado e judicializar.
Isso é uma coisa que não tem cabimento, por um simples motivo: políticas sociais envolvem sempre exclusões, envolvem sempre planejamento. É preciso optar por coisas, examinar globalmente, senão provoca uma enorme injustiça. As pessoas que entram com ações na área da saúde são pessoas que já são privilegiadas, em geral. Porque quem tem acesso à Justiça é quem tem mais educação, mais acesso à informação, advogado melhor. Entram e conseguem um tratamento caríssimo. Quem perde nessa equação? Perde o pobre, que não tem advogado, que não tem informação. Então não tem judicialização no Brasil, por exemplo, para combater a esquistossomose ou para doença tropical em geral, dengue etc. O juiz é moldado, o processo judiciário é moldado para controlar a prática de ilegalidades, quebra de isonomia. Não é para entrar na conveniência e oportunidade.
Quem é que diz que eu tenho que investir em remédios caríssimos e deixar de, por exemplo, dar creche para as crianças, que inviabiliza as mulheres de exercer trabalho etc.? O que é mais importante? Tudo tem a sua importância. É o representante político que tem que dizer, não é o Judiciário. Essas são questões assim básicas de organização do Estado brasileiro que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos.
ConJur — Mas a Constituição Federal não coloca que saúde é direito de todos e dever do Estado?
Elival da Silva Ramos — A Constituição tem um dispositivo perfeito. É um dos mais bem redigidos nessa matéria. O problema é que o juiz só lê a primeira parte. É só questão de eles lerem melhor. Leiam o artigo inteiro. Está escrito assim: “a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Mas não é só ponto final, tem uma vírgula: "esse direito é assegurado mediante políticas públicas”, é o que vem dito em seguida. Então na verdade o que está escrito é que você tem direito à saúde, mas é condicionado a uma política pública que o torne concreto. E quem monta essa política, quem implementa, é o poder público, administração seguindo a legislação.
ConJur — O debate jurídico está politizado?
Elival da Silva Ramos — Está totalmente politizado. Veja os debates no Supremo Tribunal Federal, a forma como se realizam agora. Lembro do ministro Moreira Alves, anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade e ele foi dar uma palestra no Largo do São Francisco. Fizeram uma pergunta sobre um tema específico e ele respondeu: “Esse tema está chegando ao Supremo, eu quero me preservar. Então vou falar só sobre alguns estudos correlatos”. Muito cuidadoso. Hoje o ministro fala em off, reservadamente, em tese. E depois até vai dar uma palestra ou escrever um artigo em jornal defendendo o ponto de vista. Isso não é papel de ministro. O ministro deveria reservar a posição dele para falar nos autos.. O juiz deveria falar pouco, ouvir muito e decidir. Mas está fazendo parte de um debate político.
ConJur — Isso se deu quando o STF determinou o cumprimento da pena a partir da condenação em segundo grau?
Elival da Silva Ramos — A discussão posta é: deveríamos prender alguém que é condenado em primeiro grau e tem a condenação confirmada em segundo grau? Isso melhoraria o combate à corrupção? Mas isso é uma discussão de mérito, que tem que ser travada no parlamento. A Constituição diz que a prisão só pode ser feita depois do trânsito em julgado. Com letras claríssimas. A Constituição não permite outra solução. Eu mesmo critico o texto constitucional, mas eu cumpro. Ele tem que ser cumprido. A solução para isso seria uma emenda à Constituição. E aí não cabe ao Judiciário. O parlamento não discute o assunto, fica aguardando o Supremo decidir. O STF decide uma coisa hoje, outra amanhã, depende do clamor popular. Claro que isso repercute na insegurança jurídica, porque, no mundo da política, aquilo que é lei hoje pode não ser cumprido amanhã.









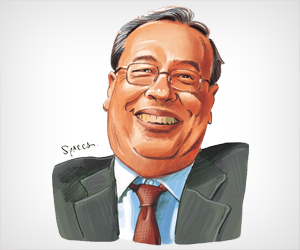 O Judiciário é hoje o controlador das políticas públicas sociais no Brasil. Mas não deveria ser, pois não é o formulador de projetos e nem foi eleito para isso. Excessivamente politizada, a Justiça se colocou no lugar da administração pública e do Legislativo, analisa Elival da Silva Ramos, que acaba de deixar o cargo de procurador-geral do estado de São Paulo.
O Judiciário é hoje o controlador das políticas públicas sociais no Brasil. Mas não deveria ser, pois não é o formulador de projetos e nem foi eleito para isso. Excessivamente politizada, a Justiça se colocou no lugar da administração pública e do Legislativo, analisa Elival da Silva Ramos, que acaba de deixar o cargo de procurador-geral do estado de São Paulo.