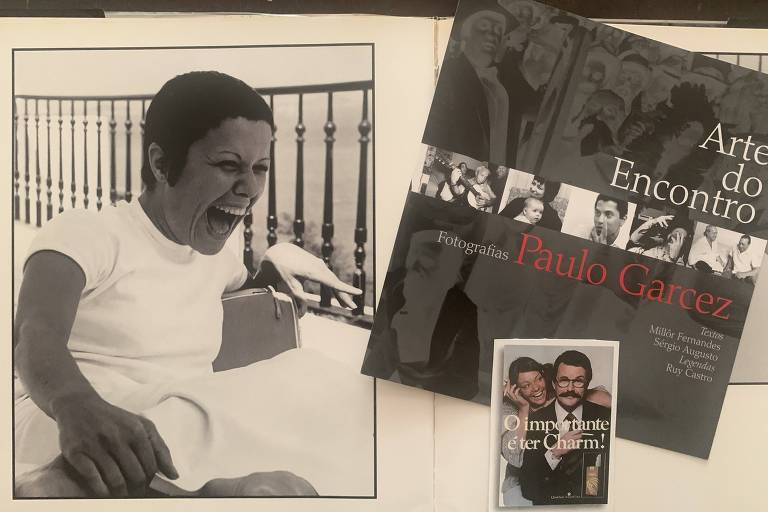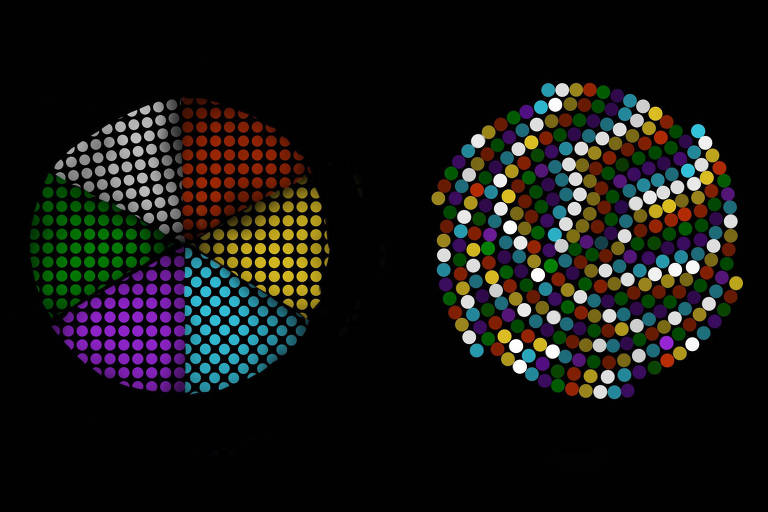Por Pedro Doria e Leonardo Pimentel
Para mais de 4,3 bilhões de pessoas – a soma de cristãos, muçulmanos e judeus no mundo – Jerusalém é sagrada. O Muro das Lamentações, último vestígio do Templo de Herodes, a Igreja do Santo Sepulcro e a Esplanada das Mesquitas são retratos em pedra dessa importância. Em 125 km2 estão milhares de anos de uma história em que fé e sangue tantas vezes correram juntos e que está no coração do atual conflito no Oriente Médio. Mas o que é essa cidade? Qual seu passado e como ele se desdobra sobre o presente? Vamos descobrir.
Jerusalém é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do planeta. De acordo com arqueólogos, havia ali povoações organizadas desde pelo menos 3000 Antes da Era Comum (AEC). Seus habitantes eram, de acordo com textos hebraicos posteriores, os jebuseus, um dos muitos povos semíticos que habitavam praticamente todo o Oriente Médio e dos quais derivam tanto judeus quanto árabes. Já seu nome, grafado como Rusalimum ou Urusalimum, é mencionado pela primeira vez em 2000 AEC em textos do Egito, ao qual a região de Canaã prestava então vassalagem. A palavra, segundo linguistas, significa “Morada de Shalim”, o deus canaanita da aurora, e também “Lugar de Paz”, já que “sh-l-m” também formam a palavra semítica para paz, da qual derivam tanto shalom em hebraico quanto salam em árabe.
Ao longo desses milhares de anos, a cidade mudou de mãos inúmeras vezes, sendo arrasada em pelo menos duas ocasiões, e mapear cada troca de comando, inclusive entre diferentes facções do mesmo povo, seria excessivo para este espaço. Entretanto, selecionamos alguns momentos-chave que ajudam a entender o motivo para que Jerusalém seja até hoje movido de disputas.
De Davi à diáspora
Invasões de povos como os filisteus, que se estabeleceram onde hoje é Faixa de Gaza, na última metade do segundo milênio AEC desestabilizaram o poderio egípcio e deixaram por conta própria os povos que viviam em Canaã. Foi nesse contexto que a cidade dos jebuseus foi conquistada pelo rei Davi, por volta do ano 1000 AEC. Nela, mais uma vez de acordo com a narrativa bíblica, ele estabeleceu a capital do reino de Israel – daí muitas vezes e Jerusalém ser referida como a “cidade de Davi” – e seu filho e herdeiro Salomão construiu o primeiro templo para Javé. Com a transição do politeísmo rural para o monoteísmo urbano, o templo se tornou um centro de peregrinação, elevando a importância e a riqueza da capital.
Uma corrente de historiadores e arqueólogos sustenta que, diferentemente da narrativa bíblica, os hebreus já estavam então divididos em dois reinos e que Jerusalém era a capital do menor deles, Judá, ao sul, em oposição ao reino de Israel, ao norte, anexado pelos assírios no século 8 AEC, o império. O ocaso de Jerusalém começou em 597 AEC, quando o rei babilônio Nabucodonosor a saqueou e levou sua elite, incluindo o rei Joaquim, como prisioneiros, instalando o rei-fantoche Zedequias no lugar. Este, porém, não era tão fantoche assim e liderou uma rebelião dez anos depois, o que motivou Nabucodonosor a arrasar a capital e levar nova onda de cativos.
Passaram-se cinco décadas até que o imperador persa Ciro, o Grande, conquistasse Babilônia, libertasse os judeus e financiasse a reconstrução de sua capital, mas como província de seu império. Com a conquista da Pérsia por Alexandre e a morte deste, a Judeia passou de mão em mão entre os reinos helênicos egípcio e selêucida, até que, em 140 AEC, reconquistou sua independência após a revolta de Judas Macabeu, cujo irmão Simão se tornou o primeiro rei da dinastia asmoniana.
Mas a independência de fato não durou muito. Em 63 AEC, o cônsul romano Pompeu Magno tomou a cidade e invadiu o templo, embora não o saqueasse – Crasso faria isso nove anos depois. No tumulto em Roma que se seguiu às mortes de Pompeu e Júlio César, os asmoneus tentaram retomar o controle com ajuda de tropas estrangeiras, mas, em 37 AEC, o Senado Romano declarou Herodes – um nobre com algum parentesco com os asmoneus e que, segundo o evangelista Mateus, não gostava de crianças – rei da Judeia e lhe deu tropas para tomar o controle do país, agora um estado vassalo. Com o apoio de Roma e autoproclamado “o Grande”, Herodes ampliou largamente o templo de Jerusalém.
Após a morte do rei, em 4 EC, a cidade passou a ser controlada diretamente por prefeitos romanos, embora os descendentes de Herodes ainda fossem reis do resto do país. Esse era o status da cidade por volta do ano 30 EC, quando, de acordo com a tradição cristã, Jesus pregou, foi martirizado, ressuscitou e subiu aos céus, embora o impacto desses acontecimentos ainda fosse demorar a ser sentido.
Para os judeus, a dominação romana era a cada dia menos aceitável. Os impostos cobrados por Calígula e a intolerância sob Nero fermentaram em uma revolta que explodiu em 66 e durou seis anos, ao fim dos quais o templo estava em ruínas. A última rebelião aconteceu em 132 e terminou três anos depois, com o imperador Adriano banindo todos os cristãos e judeus da cidade, rebatizada Aelia Capitolina.
Entre a cruz e o crescente
Salvo um curto período de 13 anos, a cidade foi romana (e bizantina) por seis séculos, mas sua importância religiosa só voltou a crescer a partir de 313, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Um grande afluxo de cristãos, residentes e peregrinos, voltou a encher suas ruas, movimentadas pela construção de igrejas, basílicas e hospitais da novamente chamada Jerusalém.
Em 610, porém, o império sassânida, da Pérsia, expulsou os bizantinos da região, devolvendo o controle da cidade, feita estado vassalo, aos judeus, que começaram a reconstruir seu templo. Mas, cinco anos depois, os sassânidas passaram o controle aos cristãos, e arrasaram a obra e perseguiram os judeus. Pouco tempo depois, o império bizantino retomou Jerusalém. Ninguém sabia então que um acontecimento na vizinha Península Arábica mudaria os destinos da cidade e do mundo.
Em Meca, um mercador chamado Maomé anunciou ter recebido de um anjo a derradeira revelação de deus (Alá), o Islã. A nova religião se declarava a versão correta dos ensinamentos não compreendidos por judeus e cristãos, cujos profetas reverenciava. Era grande a presença dessas duas religiões na Arábia, e essa relação facilitava as conversões tanto quando as conquistas militares de Maomé.
Na primeira década da nova fé, as orações eram feitas em direção a Jerusalém, apontada pelo Profeta como um dos lugares mais sagrados do mundo, antes de serem redirecionadas para Meca. Além disso, uma passagem crucial do Corão dizia que, em uma noite, Maomé foi levado por Alá da “Mesquita Sagrada” à “Mesquita Mais Distante” e que, de uma rocha neste local, ele foi levado aos céus para que contemplasse toda a terra. Embora o Corão não mencionasse Jerusalém, a interpretação era de que a “Mesquita Mais Distante” era o Monte do Templo.
A morte de Maomé em 632 não arrefeceu a nova fé. Pelo contrário, deu início a uma onda de conquistas que se estendeu por todos os continentes então conhecidos. Cinco anos depois, o califa Umar ibn al-Khattab entrava como um conquistador em Jerusalém e iniciava a construção da mesquita de Al-Aqsa, que até hoje se ergue no Monte.
Também se atribui a Umar, embora historiadores afirmem ser bem posterior, um guia de conduta para os “povos do Livro”, judeus, cristãos e zoroastrianos, que vivessem sob o domínio islâmico. Havia uma série de restrições, como a proibição de igrejas ou sinagogas mais altas que a menor mesquita e a necessidade de as cerimônias serem discretas, mas, em geral, as regras eram bem menos rígidas que as impostas aos judeus em terras cristãs.
A vida foi mais ou menos tranquila em Jerusalém até 1009, quando o califa Al-Hakim bi-Amr Allah, da recém-entronizada dinastia fatímida, ordenou a destruição de igrejas e sinagogas da cidade e a perseguição aos infiéis. O ato foi o gatilho para que a Igreja Católica convocasse uma cruzada para retomar a Terra Santa. Com um olho na fé e outro em riquezas e terras, milhares de nobres e peregrinos se despencaram para o Levante e tomaram Jerusalém em 1099, fazendo dela a capital de um reino com o mesmo nome. Boa parte da população judia e muçulmana foi morta na conquista.
Em 1187, o lendário Saladino retomou a cidade para os muçulmanos, sem o banho de sangue perpetrado quase um século antes pelos cruzados. Os europeus bem que tentaram recuperá-la, em mais duas cruzadas, mas sem sucesso. Jerusalém ainda trocou de mãos algumas vezes nos séculos seguintes, até 1516. Os turcos otomanos, ainda frescos da conquista de Constantinopla e da aniquilação do Império Romano do Oriente, tomaram dos mamelucos virtualmente todo o Oriente Médio, incluindo a cidade sagrada. Era o início de uma inédita estabilidade de mais de quatro séculos para Jerusalém.
Despotismo com tolerância
Como convém a conquistadores, os otomanos não admitiam contestação a seu domínio, mas, ao menos em Jerusalém, adotaram uma postura tolerante, permitindo que as três religiões convivessem com o máximo de harmonia possível, desde que os infiéis não pusessem os pés no Monte. Isso foi particularmente importante para os judeus da Península Ibérica, que passaram a enfrentar uma perseguição brutal após a expulsão dos mouros, concluída em 1492, e encontravam entre os turcos um porto seguro não só para sua fé, mas para suas vidas. Em 1700, Judá, o Puro, um asceta judeu nascido na Polônia, liderou uma migração de mais de mil judeus europeus para a Palestina.
A única real ameaça ao domínio otomano (e muçulmano) sobre Jerusalém foi a tentativa de invasão por Napoleão Bonaparte em 1799. Sua campanha, porém, parou na derrota em Acre, na Galileia. O século 19 estava para começar, e com ele viriam mudanças profundas nas relações entre judeus e muçulmanos e no destino de Jerusalém.
Em busca de uma terra
Sempre houve antissemitismo na Europa. Mas, no século 19, estava evidente que havia uma escalada em curso. Para muitos judeus, o sinal mais chocante foi a acusação falsa de alta-traição contra o capitão Alfred Dreyfus, na França. Quando foi necessário encontrar um bode expiatório para o vazamento de informação na Terceira República francesa, o escolhido de imediato foi um oficial de origem judaica.
Naquele tempo, havia ainda várias pequenas aldeias judias espalhadas pela Europa Oriental, vítimas de constantes pogroms. Ataques sanguinários. Mas havia também uma classe média ascendente nas grandes capitais. Buda e Pest, Viena, Berlim, Roma, Paris. Pessoas que, embora fossem de origem judaica, haviam se laicizado com o avanço do Iluminismo e sentiam-se integradas às sociedades das capitais cosmopolitas em que viviam. Para muitos, o Caso Dreyfus era prova de que a completa assimilação, o ponto em que um homem ou uma mulher judeus pudessem ser vistos como cidadãos daquelas nações como quaisquer outros, nunca chegaria.
O Movimento Sionista nasceu assim, no rastro dos pogroms e de Dreyfuss. Seu criador, um jornalista húngaro de barba espessa, negra, bigodes afiados chamado Theodor Herzl, apontava para a terra ancestral. Para a terra com Jerusalém no centro. Lá deveria se erguer o Estado de Israel, que desde o nascimento da ideia já tinha como bandeira a estrela de David entre faixas azul e branca.
Ao longo das primeiras décadas do século 20, ondas de migração se sucederam. Dinheiro foi recolhido para a compra de fazendas. Com forte influência marxista, o Movimento Sionista propunha um retorno da sociedade ao trabalho manual, ao manuseio da terra em fazendas comunitárias nas quais todos compartilhariam o serviço assim como os ganhos. Os kibutzim.
Ao longo dos milênios, nunca deixou de haver judeus na Terra Santa. Mas aquelas ondas de novos imigrantes vindos da Europa não passaram em desapercebido. Em 1922, com a implosão do Império Otomano, o Império Britânico assumiu o controle da região que escolheu batizar Palestina — o nome que os romanos usavam. Os ingleses foram sempre ambíguos a respeito de seus planos para a terra que adotaram como protetorado. Sobre como a dividiriam. Em 1917, com a Declaração de Balfour, se comprometeram a trabalhar pelo estabelecimento de um Estado judaico na região. Foram surpreendidos, com o passar dos anos, pela resistência árabe à ideia. Já em tempos da Segunda Guerra, o grão-mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, principal líder islâmico ali, trabalhou em conjunto com nazistas. E, com eles, perdeu.
Quando acabou a Guerra, com o Holocausto, a pressão migratória para a criação de Israel chegou ao ponto em que seria inevitável tomar uma decisão. No rastro da queda de Berlim, o conjunto das nações formou a Organização das Nações Unidas. Seriam elas, em conjunto, em assembleia, que teriam a legitimidade para decidir que países poderiam nascer no entorno da Cidade Sagrada.
Eretz
Uma guerra pela terra, na cabeça do chefe do Conselho Judaico David Ben Gurion, sempre foi inevitável. Caso a Assembleia Geral da ONU decidisse não autorizar a partição do protetorado britânico na Palestina em dois países, um judeu, outro árabe, o movimento sionista entraria em guerra. Caso a autorização ocorresse, seriam os árabes. Mas alguém violaria a decisão da comunidade de nações.
Foram os árabes.
Ben Gurion não sorria muito. Não era um tipo afetuoso. Baixinho, pouco mais de metro e meio de altura, careca, já em 1947 tinha os dois tufos de cabelo branco laterais que fariam do seu um dos rostos mais facilmente reconhecíveis no mundo durante a segunda metade do século 20. E sempre com uma barriga grande, proeminente, desafiando o equilíbrio de um corpo fino porém ágil, mesmo quando avançou na idade. Anotava tudo o que ouvia diligentemente — era assim que organizava seus pensamentos. Escrevendo. Às vezes, pedia às pessoas em conversa que falassem mais devagar. Para que anotasse.
A Europa era um grande armazém de contrabando de armas usadas na Segunda Guerra e, nos meses anteriores à decisão da ONU de dividir o território, enviados do Conselho Judaico e dos países árabes vizinhos já haviam se lançado às compras. A Assembleia Geral decidiu conceder 56% do território para os judeus e, 43%, para os árabes. O percentual engana — um terço do território alocado para Israel era o deserto de Negev, a terra de pior qualidade para plantio nos futuros países. Jerusalém, pela decisão da ONU, seria uma cidade internacional.
O nascimento dos dois países foi autorizado em novembro de 1947. Egito, Transjordânia (atual Jordânia), Síria, Iraque e Líbano invadiram o território para expulsar os judeus em maio seguinte. Lutaram por um ano até assinarem um armistício.
A Haganá, braço armado do Conselho Judaico que se tornaria a atual Força de Defesa de Israel (IDF), não tinha mais soldados, tampouco melhores equipamentos. No início do conflito, Ben Gurion se viu obrigado a impor alistamento obrigatório tanto para homens quanto para mulheres, uma prática incomum no mundo de então e ainda hoje, mas que se tornou política de Estado para a segurança do país que nascia.
A diferença com a qual os árabes não contavam era de educação. Tanto no comando de suas forças quanto no governo da Israel que nascia estavam homens e mulheres que haviam estudado em algumas das melhores universidades americanas e europeias, que haviam lutado nos exércitos aliados, dominavam com mais habilidade os instrumentos da diplomacia e os da guerra. Eram melhores em estratégia por isso. Costuraram e puderam contar com o apoio tanto da URSS de Stálin quanto dos EUA de Harry Truman também por isso.
Mas, para os árabes, a derrota teve gosto de humilhação. Olhavam para aqueles colonos que vinham chegando desde o final do século 19 com estranheza, haviam achado que seria fácil derrotá-los. Não foi. Não é até hoje. O resultado do conflito, porém, foi de que o Estado da Palestina para seus moradores árabes jamais nasceu. Jerusalém terminou partida — a metade Ocidental com Israel e, a Oriental, com a Transjordânia.
Na população árabe local, o que ficou foi ressentimento. Muitos perderam suas casas. Ninguém esperava a derrota. O trauma se impôs como uma dificuldade imensa para qualquer prospecto futuro de paz. Ficou, no discurso dos líderes, o desejo de vingança. Mais importante do que fazer nascer uma nação árabe palestina que convivesse com Israel era eliminar Israel do mapa.
No dia do Perdão
Yitzhak Rabin se tornou um rosto nacionalmente conhecido, em Israel, em 1967. Ele tinha 45 anos, ainda jovem, mas um veterano da Guerra da Independência e já comandante das Forças de Defesa quando Egito e Jordânia começaram a se movimentar para invadir o país, em 5 de junho. O conflito, curtíssimo, ficou conhecido por isso mesmo como a Guerra dos Seis Dias e foi decidido em dois únicos movimentos. No primeiro, Israel disparou mísseis aniquilando as pistas usadas por caças militares egípcios para levantar voo. Tendo incapacitado a guerra pelo ar do adversário, a IDF avançou ela própria sobre a Faixa de Gaza e a Península do Sinai, territórios do Egito. E sobre Jerusalém Oriental, território da Jordânia. Ao final do sexto dia, sem terem de fato conseguido se movimentar, os árabes depositaram armas.
Exatos seis anos depois, houve uma segunda tentativa de invasão. Desta vez, os países árabes se organizaram melhor. Escolheram o Yom Kippur, dia do Perdão em 1973, para invadir Israel no momento em que judeus de todo o mundo jejuam e se põem em prece. Queriam pegá-los despreparados em seu dia mais sagrado. Enviaram soldados à luta, desta vez, Egito, Síria, Arábia Saudita, Argélia, Jordânia, Iraque, Líbia, Kuwait, Tunísia e Marrocos. E foi como uma repetição do conflito anterior, apenas um quê mais longo — três semanas. Israel bombardeou pistas aéreas e boa parte da briga se deu pelas bordas. Nas fronteiras. Ao fim, anexou mais território — as Colinas de Golã, da Síria, e a Cisjordânia, da Jordânia.
A Guerra dos Seis Dias e a do Yom Kippur mudaram a natureza do jogo. Ali, tendo perdido territórios, os países árabes perceberam que tentar conquistar Israel estava além de suas possibilidades. Em 1978, em Camp David, nos EUA, o presidente egípcio Anwar Sadat e o premiê israelense, Menachem Begin, assinaram um acordo de paz. A Península do Sinai foi devolvida, mas a Faixa de Gaza, não. Em 1972, durante as Olimpíadas de Munique, um grupo terrorista palestino manteve reféns atletas israelenses. Matou 12.
O tempo das guerras se ia, o do terrorismo começava.
Dois acordos
Hoje, Jerusalém pertence a Israel. Não é um cenário que leve à paz — mas um acordo é possível. E, ao menos em sua estrutura mais básica, existe e é reconhecido como viável pela comunidade internacional. De formas ligeiramente distintas, ele já foi posto na mesa duas vezes. Mas, em ambas, não foi sequer negociado pelos palestinos. Compreender por que os palestinos não o negociaram é fundamental para perceber onde está o nó.
O acordo foi proposto pela primeira vez pelo premiê Ehud Barak, em 2000. Do Partido Trabalhista, de centro-esquerda. E, pela segunda vez, no governo de Ehud Olmert, em 2008. Do Likud, de direita. Aliás, o mesmo partido do atual premiê, Benjamin Netanyahu. Em essência, 94% da Cisjordânia mais a Faixa de Gaza servirão de território à Palestina que nascerá. O país poderá ter sua capital em Jerusalém Oriental, que como um dia ocorreu com Berlim, será dividida. Fica necessário negociar uma ponte de terra entre um trecho e outro do território, além de algumas concessões. Em troca, os palestinos abrem mão do direito de retorno às terras onde hoje fica Israel.
Desde o início do movimento sionista, houve oposição ao nascimento do país Israel. A meta estabelecida primeiro pelos países árabes vizinhos, depois pela Organização pela Libertação da Palestina, foi sempre sua eliminação completa. Este é o maior obstáculo. A liderança árabe, após décadas prometendo que Israel deixaria de existir, precisa aceitar seu direito à existência. Em 1993, a OLP depôs armas e reconheceu o direito do Estado judeu de existir. Em troca, Israel deixou Gaza e Cisjordânia e a gestão do território ficou em suas mãos. Não há mais OLP — ficou apenas seu braço político. Fatah. Não é ainda um país independente, mas tem autonomia de governo.
Ainda assim, o Fatah jamais chegou ao ponto de negociar um acordo no qual abre mão do direito ao retorno às terras ocupadas por Israel. Isto seria reconhecer, perante toda a população, que as tentativas de recapturar o território, as muitas ações de terror, todo o sofrimento e mortes foram em vão. A população precisa ser convencida da ideia e, para isso, é necessário apoio aos negociadores palestinos dos outros governos árabes. A aproximação de Israel com a Arábia Saudita, que estava em curso e foi possivelmente atropelada pelo ataque do último sábado, tinha esta intenção.
Em 2007, Hamas e Fatah entraram em conflito na Faixa de Gaza e o grupo radical venceu. Desde então, controla escolas, comunicação, mantém viva a meta de levar Israel ao fim. Desde 2008, quando se frustraram as negociações de paz pela segunda vez, os moderados começaram a perder espaço na política israelense. No país, que sempre foi uma democracia estável, o regime entrou em crise. A esquerda quase desapareceu, o centro é frágil e os governos pendem cada vez mais ao radicalismo da direita.
Não há paz à vista. Jerusalém ainda precisa ser compartilhada.