As mulheres e o problema que não tem nome
Na semana passada, entrei numa livraria para comprar uma sacola de carregar livros e descobri os novos títulos da coleção Penguin Modern. Uma série de 50 fascículos de baixo custo, ideais para a leitura rápida de contos, ensaios ou trechos de obras escritas por grandes autores do século 20. Dentre eles, várias mulheres com distintas trajetórias de vida, como a feminista negra Audre Lorde, a memorialista de origem cubana Anaïs Nin, a crítica cultural norte-americana Susan Sontag, a nossa Clarice Lispector e a ativista Betty Friedan, autora de “A Mística Feminina”, um estudo sobre a situação das mulheres americanas durante a década de 1950, que analisa o impacto da depressão econômica de 1929 e da Segunda Guerra Mundial no ressurgimento do ideal da mulher enquanto mãe, esposa e dona de casa.

O volume de Friedan me chamou atenção pelo título, “The Problem That Has No Name” (o problema que não tem nome), e pela agilidade com que introduz o leitor a dois importantes capítulos de “A Mística Feminina”, em que a autora analisa as consequências socioemocionais de mulheres que abandonaram a escola e o mercado de trabalho pela promessa de felicidade de uma vida simples e dedicada ao lar.
Segundo Friedan, a principal consequência deste processo de retorno à domesticidade seria a sensação de que a simples realização de tarefas caseiras não satisfaria a ambição da mulher moderna, cuja educação estaria em descompasso com as demandas da vida doméstica. A autora teria chegado a essa conclusão ao entrevistar uma série de mulheres de todos os níveis sociais, as quais se diziam abaladas por um mal sem nome, mas que se manifestava à medida que elas se encontravam presas aos papeis de mães ou esposas, sem oportunidades para desenvolver a si próprias.
Segundo Friedan, a principal consequência deste processo de retorno à domesticidade seria a sensação de que a simples realização de tarefas caseiras não satisfaria a ambição da mulher moderna, cuja educação estaria em descompasso com as demandas da vida doméstica. A autora teria chegado a essa conclusão ao entrevistar uma série de mulheres de todos os níveis sociais, as quais se diziam abaladas por um mal sem nome, mas que se manifestava à medida que elas se encontravam presas aos papeis de mães ou esposas, sem oportunidades para desenvolver a si próprias.
A autonomia da mulher e os obstáculos para a sua consecução é tema de várias obras literárias dos séculos 18 e 19. “Clarissa” (1748), de Samuel Richardson, ou “Middlemarch” (1871-2), de George Eliot, retratam o problemático ideal de feminilidade da época, bem como o esforço de suas heroínas para romper com os preconceitos sociais que lhes impedem de serem reconhecidas como iguais junto aos homens. Porém, nenhum autor foi capaz de expressar com tamanha fidelidade a aflição típica da mulher moderna e a descoberta da sua própria autonomia como o norueguês Henrik Ibsen
Em “Casa de Bonecas” (1879), a personagem Nora é uma mulher infantilizada pelo pai e pelo marido que aos poucos ganha consciência de si e do seu despreparo para a vida: “Eu sou a sua esposa-boneca, assim como em casa fui o brinquedo de papai e as crianças são os meus brinquedos. (...) Preciso educar-me (...) Tenho que fazer isso sozinha para compreender a mim mesma (...)”.
Para Friedan, o texto de Ibsen representa de maneira simbólica a verdadeira mensagem do feminismo de que a luta das mulheres por igualdade frente aos homens não se baseia em misandria, mas na necessidade de se reconhecer a mulher enquanto um ser humano em sua jornada de autoconhecimento. Assim, Nora diz ao marido: “Creio que antes de mais nada sou um ser humano, assim como você... ou pelo menos preciso tornar-me um”.
Apesar dos nossos avanços sociais e do amplo espaço concedido ao feminismo na mídia, acredito que as palavras de Nora repercutem até hoje, mesmo entre mulheres que se dizem empoderadas. Afinal, não existe verdadeiro empoderamento sem a gradual conquista de autoconhecimento e este demanda um caminho que, paradoxalmente, precisamos trilhar sozinhas se quisermos ajudar umas as outras.
Juliana de Albuquerque
Escritora, doutoranda em filosofia e literatura alemã pela University College Cork e mestre em filosofia pela Universidade de Tel Aviv.


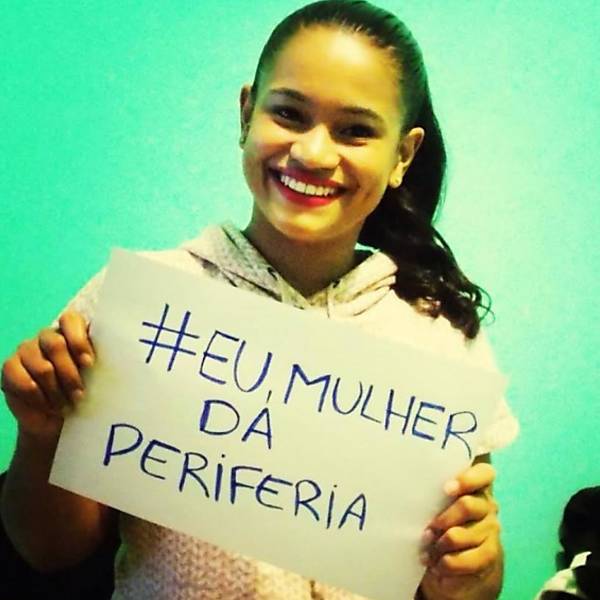






Nenhum comentário:
Postar um comentário