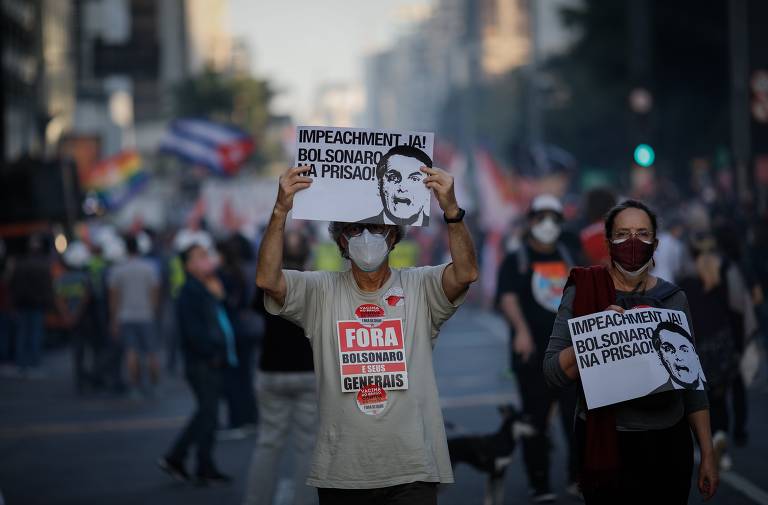O editorial da Folha “A desigualdade e o IR” (23/6/21) acerta ao sublinhar: “Há muito a fazer para tornar a carga de impostos mais progressiva, sem elevá-la além de seu patamar já exagerado. Rever subsídios, tributar dividendos (com ajuste no gravame dos lucros) e até majorar alíquotas sobre rendimentos altos se mostram caminhos viáveis”.
Destacar a questão da injustiça fiscal é importante avanço no debate sobre a reforma tributária, marcado entre nós pela ênfase na simplificação dos impostos que incidem sobre o consumo e o descaso com a tributação de altas rendas e riqueza.
O país atravessa grave crise socioeconômica e sanitária. A história econômica demonstra que, em crises dessa magnitude, a tributação de altas rendas e riquezas é medida necessária. Atualmente, instituições de fomento (como o FMI, por exemplo) e governos de países centrais (como os EUA, por exemplo) estão propondo aumentar os impostos para os mais ricos para combater o aumento da pobreza e da desigualdade.
No Brasil, essas ideias liberais não prosperam. A agenda da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional está desconectada de qualquer liberalismo que preste. A tributação progressiva é imperativo civilizatório: somos um dos países mais desiguais do mundo, e o nosso sistema tributário é um dos mais injustos.
Na comparação internacional, o Brasil ocupa as últimas posições na tributação da renda e da riqueza e uma das primeiras na tributação do consumo (que captura proporção maior da renda dos pobres e parcela menor da renda das classes mais abastadas); o IRPF tem baixa progressividade, reduzido poder arrecadatório e alíquotas máximas reduzidas; não tributamos a distribuição de lucros e dividendos (nisso, somos outra anomalia internacional), o que contribui para que cerca de 70% da renda de quem ganha mais de 240 salários mínimos mensais sejam isentos de impostos; o IPVA incide sobre motos e carros populares, mas não incide sobre helicópteros e iates; o imposto sobre grandes fortunas, aprovado em 1988, ainda não foi implantado; a alíquota máxima do imposto sobre heranças no Brasil é residual, frente a alíquotas praticadas por países da OCDE; e a terra rural, num país com presença marcante do agronegócio, está praticamente isenta de tributação.
Essas injustiças distributivas contrariam o “princípio da equidade” formulado originalmente por Adam Smith. Esse princípio, inscrito na Constituição da República, não é observado. Pode-se afirmar, portanto, que o sistema tributário brasileiro é inconstitucional.
O editorial está em sintonia com o anseio da sociedade. Um dos achados da pesquisa “Nós e as desigualdades” (Oxfam/Datafolha) é que 84% dos brasileiros concordam com o aumento dos impostos para pessoas mais ricas, para financiar políticas sociais no Brasil. O levantamento mostra ainda que quase nove em cada dez pessoas acreditam que não há progresso nacional possível se não forem reduzidas as desigualdades.
Todavia, o editorial peca ao afirmar que “forças da esquerda” (...) “relutam em abraçar propostas mais ambiciosas para o IR, dados os interesses dos sindicatos de categorias mais bem situadas na pirâmide social”.
O texto desconsidera que, em outubro de 2019, os seis partidos da oposição (PC do B, PDT, PSB, PSOL e PT) protocolaram no Congresso Nacional a emenda substitutiva global à PEC 45 (nº 178), focada na tributação progressiva. Trata-se da “reforma tributária solidária, justa e sustentável”, que apresenta diversas propostas de leis tributárias sobre altas rendas e patrimônio, taxando mais cerca de 600 mil contribuintes (0,3% da população brasileira).
Os acréscimos de receita estimados pelos estudos técnicos que embasaram a proposta (elaborados pela Anfip/Fenafisco) são mais do que suficientes para que se interrompa a devastação em curso do processo civilizatório no Brasil.