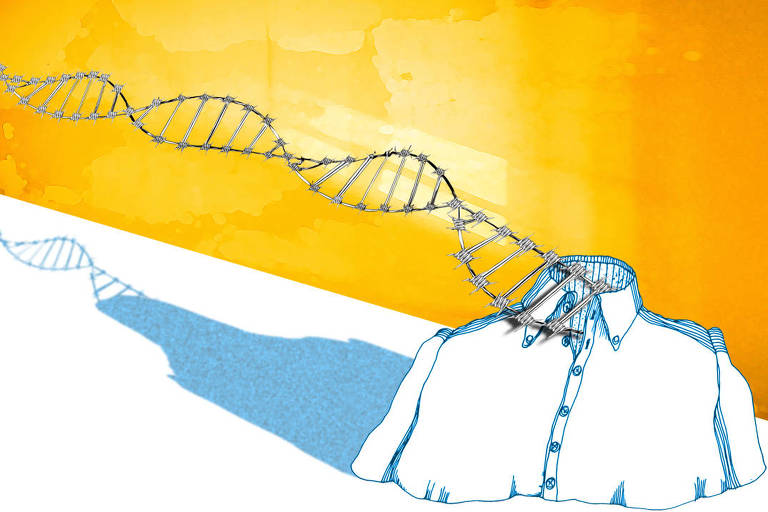"O Dia em que Eva Decidiu Morrer" traz, pela primeira vez no país, a história de uma brasileira que viajou à Suíça para exercer o direito de morrer com dignidade. O caso que aconteceu há cerca de dois anos é narrado pelo jornalista Adriano Silva em um livro-reportagem que não se furta a assumir uma posição sobre o assunto. Daí seu subtítulo: "Uma Reflexão sobre Autodeterminação e Direitos de Fim de Vida". A obra será lançada em março.
Eva —nome fictício de uma filósofa real, de 74 anos, cuja família preferiu manter no anonimato— não tinha uma doença terminal. Mas, em 2023, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) que lhe trouxe sequelas físicas, psíquicas e intelectuais.
Ao compreender que seria incapaz de continuar a trabalhar e a viver da forma que estava acostumada, ela tomou a decisão de buscar ajuda para sua morte. Informou ao filho, que tentou convencê-la do contrário por alguns meses, mas sem desrespeitar a autodeterminação da mãe.
No fim, ele a acompanhou à Suíça, onde, com a ajuda de uma organização pelo direito à morte com dignidade, a Dignitas, Eva acionou a válvula na cânula conectada à veia de seu braço, liberando 15 gramas de sódio pentobarbital, um poderoso sedativo, em sua corrente sanguínea.
"Essa substância a conduziria ao sono profundo em poucos segundos", escreveu Silva. "Nesse estado de anestesia, sem dor nem agonia, em poucos minutos seu coração pararia de bater. Em mais alguns minutos, seu cérebro cessaria todas as funções vitais. E Eva deixaria de existir." Foi o que aconteceu.
O relato com a história de Eva —contado do ponto de vista de seu filho, Guido— está dividido em duas partes no livro e não se resume ao momento final. O autor levanta a vida da filósofa, detalha o momento em que ela teve o AVC e narra cada uma das derrotas diárias que foram mostrando para ela a impossibilidade de uma existência que considerasse digna.
Ex-diretor de redação na editora Abril, de revistas como SuperInteressante e Vida Simples, e ex-editor sênior da Exame, Silva também foi chefe de redação do Fantástico, da Rede Globo.
Com sensibilidade para descrever pessoas e sentimentos complexos, o jornalista vai além das obviedades e do maniqueísmo e apresenta personagens reais profundos, com qualidades e defeitos, tal qual seres humanos.
É uma característica que vem a calhar numa obra que discute um tabu da sociedade, como o da MVA (morte voluntária assistida), o nome que se dá quando uma pessoa decide terminar a própria vida de forma segura e com supervisão médica de modo a encerrar o sofrimento intolerável. Ela também é chamada de suicídio assistido por médico ou ajuda médica para morrer.
"Nós não estamos falando aqui, em nenhum momento, do suicídio comum ou do suicídio irracional, como é chamado. Ou seja, nós não estamos falando de uma dor existencial de uma pessoa jovem e fisicamente saudável. Isso é uma outra discussão, tem um outro encaminhamento, tem um outro tratamento. O que nós estamos falando aqui, quando se fala em direito de fim de vida, em MVA, diz respeito a três tipos de pessoa", afirma Silva, em entrevista.
"A primeira delas é que tem doença terminal ou incurável. Muitas dessas pessoas já estão num processo em que o sedativo não funciona mais, o analgésico não funciona. Então, tudo que ela tem pela frente é sofrimento bárbaro, é tortura."
"O segundo grupo de pessoas é daquelas que não têm a terminalidade, mas têm uma incapacitação grave e irreversível. É o caso da Eva, que teve esse AVC que acabou com tudo que ela sabia e gostava de fazer na vida. E a ponto de ela entender que daquele jeito não vale a pena. Aí também entram os 40 tipos de demência, que, no caso do Alzheimer, tem a sua camada extra de complexidade, porque o paciente tem que tomar a decisão enquanto ele ainda tem a consciência."
"E tem um terceiro grupo, que é o grupo do padecimento por envelhecimento avançado. Existem pessoas que, em determinado momento, 90 e muitos anos, 80 e muitos anos, 100 e poucos anos, depende de cada um, a pessoa sente que perdeu todas as condições de viver uma vida com uma qualidade que ela considera mínima, minimamente aceitável. Há dor, fadiga, cegueira, uma série de questões que podem advir com a idade. Quando a gente vive uma situação de uma população que envelhece no mundo e no Brasil, cada vez mais nós vamos ter mais pessoas nessa situação."
Segundo Silva conta no capítulo "As Palavras Certas e Como Usá-las", a MVA pode ser autoadministrada —caso de Eva, que acionou a válvula com o pentobarbital— ou administrada por terceiros, ato também chamado de eutanásia, quando a pessoa solicita que outra pessoa ministre a substância —muitas vezes por não poder fazê-lo, caso do marinheiro espanhol Ramón Sampedro, que ficou tetraplégico aos 25 e enfrentou uma batalha legal de 29 anos para ter a permissão de morrer.
Sua história, filmada por Alejandro Amenábar em "Mar Adentro", com Javier Bardem em seu papel, venceu o Oscar de filme estrangeiro em 2005. O livro elenca outros casos importantes para a causa, como a do botânico e ecologista britânico David Godall, que realizou a MVA aos 104 anos, sem doença letal, alegando "cansaço de viver". A mesma razão embasou o procedimento do cineasta francês Jean-Luc Godard, aos 91.
No Brasil, há de se lembrar do caso de Nelson Irineu Golla que, em 2014, aos 74, atendendo a pedido da esposa, Neusa, de 72, que definha após sofrer dois AVCs, abraça-se a ela com uma bomba de fabricação caseira entre os dois e a detona, em uma clínica para idosos na zona leste de São Paulo. A história está no livro-reportagem "O Último Abraço - Uma história real sobre eutanásia no Brasil", do jornalista Vitor Hugo Brandalise.
Além do capítulo "Os Fatos e Argumentos", nos quais o autor discorre a respeito de posições contrárias à MVA —como as de diversas religiões—, a legislação brasileira é dissecada em "A autodeterminação no Brasil e no mundo".
cuide-se
Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar
"No Brasil, a gente considera a morte uma derrota", diz Silva. "O médico sente assim, a família sente assim, e essa pessoa fica ali, sofrendo barbaramente, porque a gente não deixa a morte acontecer. Então, há o primeiro caminho, que é a distanásia, ou obstinação terapêutica, estendendo a vida a todo custo, sem se importar com as consequências para o paciente. O segundo caminho é o da ortotanásia: eu não antecipo a morte, mas eu não prolongo o processo de morrer também. Aí também entram os cuidados paliativos. Eu posso dizer que não quero intubação, não quero ressuscitamento, não quero hemodiálise. Recusar determinados tratamentos."
"O que nós não temos no Brasil? A terceira hipótese, que é você dizer o seguinte: eu não quero o tratamento, nem o paliativismo, quero ir embora agora, eu não aguento mais. Chegou. Deu. Assim eu não quero. Eu não quero ficar aqui na morfina, esperando a falência dos meus órgãos. Pô, eu já tomei essa decisão, minha existência se tornou insuportável, me deixa ir rápido e de maneira indolor."
Hoje, há 14 países nos quais a MVA é legalizada, com uma série de matizes, como a exigência ou não de terminalidade, se pode ou não ser administrada por terceiros e ainda o acolhimento ou não a estrangeiros —razão pela qual a Suíça se tornou um destino para a maioria das pessoas atrás do procedimento.
São eles: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, EUA (onze estados), Canadá, Equador, Colômbia, Austrália e Nova Zelândia. Outros quatro estão em vias de legalizar: Reino Unido, Itália, Cuba e Peru.
Sobre o fato de assumir uma posição sobre o assunto, Silva afirma que "não quis fazer um livro isento, no sentido de não me colocar". "Procuro ser justo e, para bem contar uma história, busco olhar por todos os ângulos. Mas eu parto do pressuposto de que uma história como essa demonstra claramente a tremenda importância de a gente não ser obrigado a morrer de forma horrível."
"Isso toca ainda numa questão minha de sempre ter sido um defensor dos direitos civis e das liberdades individuais. Então, essa me pareceu uma causa suficientemente grande para eu me engajar aos 54 anos."
Para tanto, o autor criou o site boamorte.org, num esforço de oferecer conteúdo em português sobre o tema. "Tentei colocar os principais personagens, os principais livros, os principais filmes, as principais legislações."
Ao lado da advogada Luciana Dadalto, que atua na área e direito médico, Silva está criando uma associação civil chamada Eu Decido. "Vamos montar a entidade para estruturar, não apenas a discussão sobre esse tema, mas também estruturar um pedido, uma conclamação para que o Brasil reveja sua legislação.
"A julgar pela experiência dos países que já aprovaram legislações relativas à MVA, os direitos de fim de vida costumam tomar duas ou três décadas de discussão em sociedade até ganharem força jurídica. É trabalho para uma geração", escreve o autor.
Silva, portanto, não acredita que viverá para colher os frutos de seu trabalho. Ou, melhor dizendo, não morrerá colhendo esses frutos. "Precisamos inaugurar essa conversa com urgência no país", afirma.