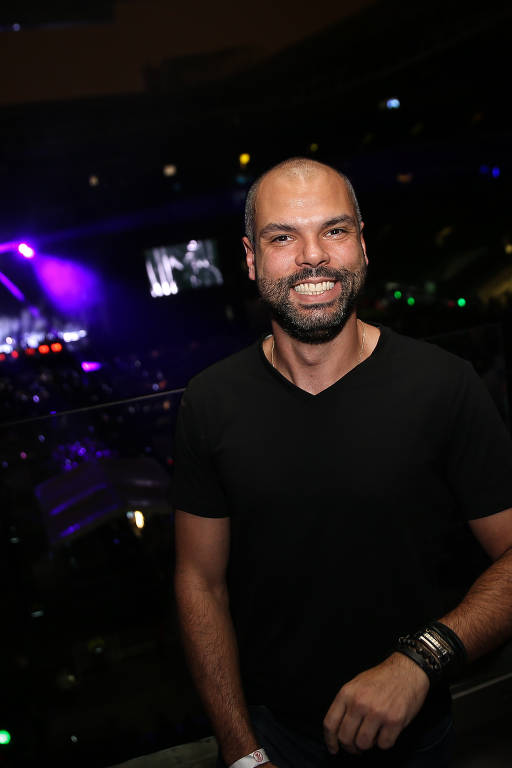O sol está quase a pino e seis meninos brincam subindo as escadas, chutando uma bola e escalando o poste de luz. Negros, descalços e sem camisa, eles correm por um território que é deles sem se intimidarem com o grande edifício azul e preto rodeado de viaturas logo atrás.
Do vidro que reveste o prédio circular, só sobraram alguns cacos. Estruturas de ferro se retorcem por cima das paredes encardidas, e lá dentro ainda é possível ver as placas de chumbo sobrepostas numa inútil tentativa de proteção contra os tiros.
É o alto do Morro das Palmeiras, onde foi instalada uma das quatro UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) do Complexo do Alemão. Dez anos após a operação que prometeu pacificar o conjunto de favelas do Rio de Janeiro, a construção é um dos muitos símbolos de uma política que ruiu.
Depois de tantos ataques, os policiais não ficam mais ali. Transferiram a base para dentro da estação do teleférico ao lado, que também não funciona mais. Daquele domingo de novembro de 2010, os moradores dizem ter restado apenas elefantes brancos e frustração.
“Acenderam a vela da esperança e depois jogaram um balde de água fria em cima”, diz Elisabete Aparecida, 62, conhecida como Tia Bete. Ela é fundadora do centro cultural Oca dos Curumins, que há 43 anos desenvolve atividades que vão do xadrez ao inglês na comunidade.
A vela da esperança estava nos vários serviços e oportunidades que começaram a chegar depois que a operação cinematográfica com mais de 2.500 policiais e militares ingressou no morro com tanques, caveirões e helicópteros e hasteou a bandeira do Brasil no topo, numa imagem que correria o mundo.
Nos dois anos seguintes à invasão, a presença ostensiva do Exército e da Polícia Militar de fato espantou o Comando Vermelho para outras áreas. Sem os tiroteios, permitiu a entrada de equipamentos públicos, projetos sociais, empresas e turistas no Alemão, antes considerado impenetrável pela população do “asfalto”. Até novela foi gravada ali.
O Rio vivia um momento ímpar. As gestões federal de Dilma (PT), estadual de Sérgio Cabral (hoje preso) e municipal de Eduardo Paes (ambos do MDB) estavam alinhadas, e a cidade tinha acabado de ser escolhida como sede dos Jogos Olímpicos. Crianças queriam se tornar policiais, e grande parte da população e da imprensa aplaudia as medidas.
Cinema com filmes em 3D, teleférico com estações culturais acopladas, biblioteca modelo e uma Nave do Conhecimento com capacitação em tecnologia foram algumas das novidades. Vieram ainda Correios, Casas Bahia, agências bancárias e uma delegacia incrustada no alto da favela.
Sesi, Sesc e Senac levaram cursos gratuitos, empresas de telefonia passaram a instalar seus cabos nos becos e vielas, e a construção de ruas e moradias prometeu urbanizar o complexo com dinheiro federal do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Nos anos seguintes, porém, tudo desmoronou ao mesmo tempo. Em julho de 2012, a soldado Fabiana Aparecida foi morta em um ataque à UPP de Nova Brasília. Em julho de 2013, a ONG Afroreggae, símbolo de recomeços, teve um prédio incendiado e outro alvo de tiros, decidindo então fechar.
Somado a abusos e corrupções da polícia, o tráfico aos poucos foi voltando. “O cara começa vendendo assustado, dali a pouco continua assustado mas com uma pistolinha na calça. Aí já não é mais um, são quatro e eles já têm um fuzil, mas ainda correm. Depois eles não correm mais, quem corre é a polícia”, ilustra José Júnior, fundador do Afroreggae.
Hoje, para entrar nas ruas das comunidades, o carro precisa desviar das barras de ferro cravadas no asfalto que impedem a passagem dos caveirões. Muitas cabines das UPPs estão vazias, a presença armada é clara, e a pichação “CV” aparece nos muros e até em placas de “não jogue lixo”.
Para um delegado que participou da ocupação e não quis se identificar, o Alemão ainda é “intransponível” à polícia. Um ex-traficante que conseguiu fugir naquela manhã de 2010 misturado aos moradores, colocando um bolo de moedas no bolso para se disfarçar, acha que a facção está ainda mais forte.
“Agora tem muito mais. Antigamente tinha os mais antigos para poder liderar, agora os jovens são muito mais acelerados”, diz. Questionado sobre quantos traficantes estima, ele recua mas depois responde: “Acho que falta pouco para chegar a mil” —cerca de 200 fugiram pela mata da favela vizinha Vila Cruzeiro dez anos antes, outra cena marcada na cabeça do brasileiro pelo helicóptero da Globo.
Paralelamente à violência, os investimentos no que já estava edificado minguaram, sendo o teleférico uma das mais visíveis decepções dos moradores: resultado de R$ 328 milhões, fechou em 2016 para manutenção e nunca mais abriu, por um imbróglio jurídico entre o estado e a empresa administradora.
O governador afastado Wilson Witzel (PSC) prometeu ressuscitá-lo no início de seu mandato, o que não aconteceu. Entre os serviços colocados dentro das estações, os polos culturais, a biblioteca e a delegacia, cravada de tiros, não funcionam mais. Algumas delas hoje são vizinhas de bocas de fumo.
Dos outros serviços citados antes, também não sobrou nenhum. A Nave do Conhecimento, por exemplo, foi interrompida em 2018 por falta de repasses de verba da prefeitura. O cinema ao lado, o primeiro em uma favela, fechou sem explicações à comunidade.
“Queremos mais investimento em saúde, educação e lazer, sem a palavra segurança. O dinheiro que gastaram com aquilo [a ocupação] poderiam ter gasto com outras coisas. Não trouxe paz para ninguém”, opina Vera, uma líder local —o nome foi trocado a seu pedido.
Ela ressalta que os jovens da comunidade ficaram órfãos de alternativas depois que programas como o Caminho Melhor Jovem (do estado) e a Rede de Adolescentes Promotores da Saúde (da prefeitura) foram extintos, e lembra que hoje uma das poucas opções de lazer e esporte é a Vila Olímpica, aberta em 2002.
“O que salva são as instituições da comunidade que já existiam antes e continuam fazendo trabalho de formiguinha”, exalta Tia Bete, citando iniciativas como o coletivo Papo Reto e o jornal Voz das Comunidades. “Falta uma política que integre esses projetos e que de fato seja duradoura, não adianta vir com coisas mirabolantes.”
Não só os moradores reconhecem o fracasso posterior da ocupação, mas também os chefes das polícias Militar e Civil à época.
“Foi uma operação necessária, com um valor simbólico gigantesco, mas ficou devendo muito em termos de aproveitamento do êxito”, diz o coronel da reserva Mário Sérgio Duarte, que publicou em 2012 “Liberdade para o Alemão: O Resgate de Canudos”, livro que ele não quer mais vender.
O delegado Allan Turnowski, hoje de volta à chefia da Polícia Civil, acha que não deveria ter sido dada à polícia “a função de fazer o papel de outras instituições”. “A polícia tinha que evitar a volta do crime. Se não fez isso falhou na segurança, e falhou porque a PM foi isolada”, afirma.
Mas, na visão dele, a operação em si foi um sucesso e “é o início de qualquer plano de ocupação” para o ano que vem. O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), disse ao jornal O Globo que deve anunciar um grande plano de segurança em breve, que estuda a ocupação de territórios e que, “na sua gestão, não há lugar onde o Estado não possa entrar”.
Para Bruno Paes Manso, pesquisador da USP e autor de “A República das Milícias”, a lição que a ocupação do Alemão deixa é que, antes de qualquer coisa, é preciso resgatar o poder institucional do governo do Rio. “É preciso alguém com força, e força não significa violência. Pelo contrário, quanto mais violência você usa, é porque menos poder você tem.”