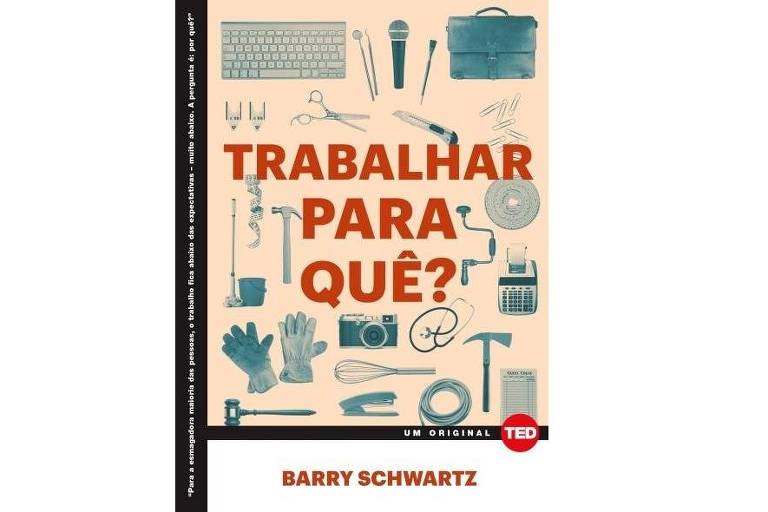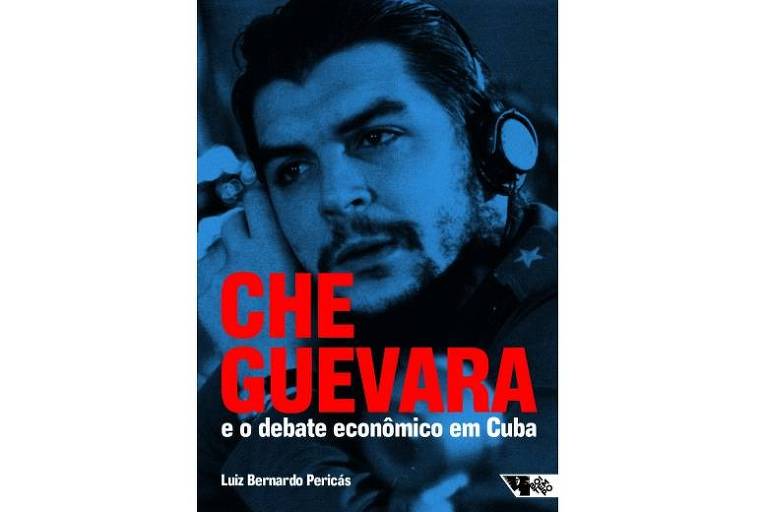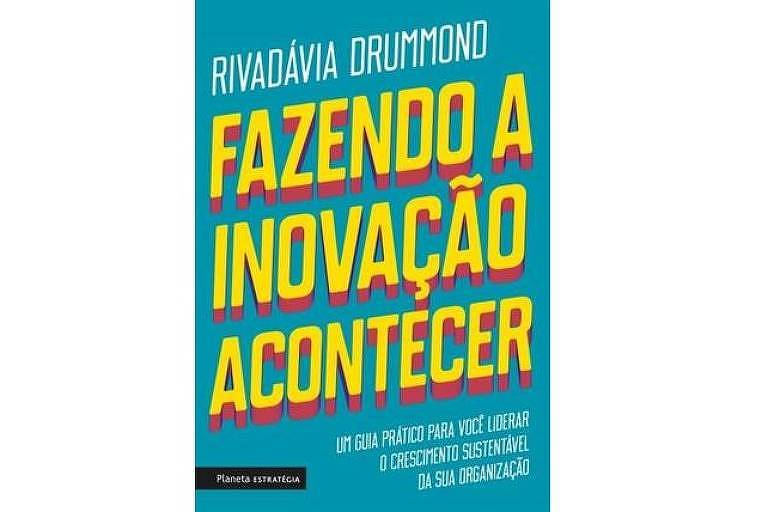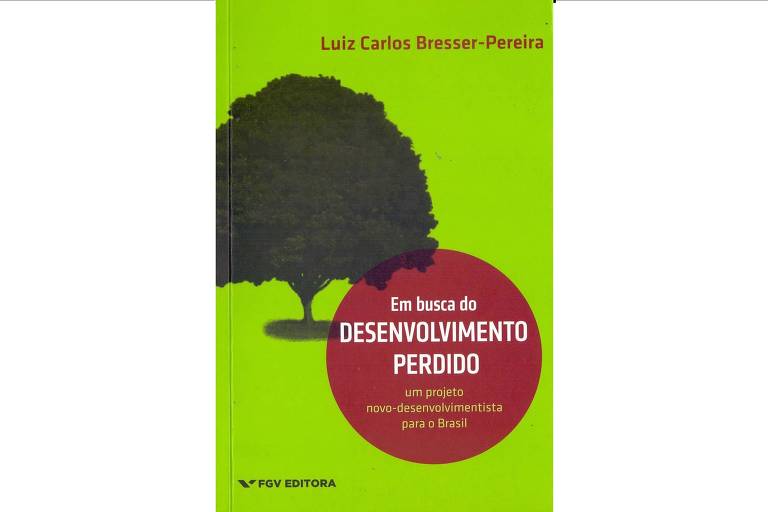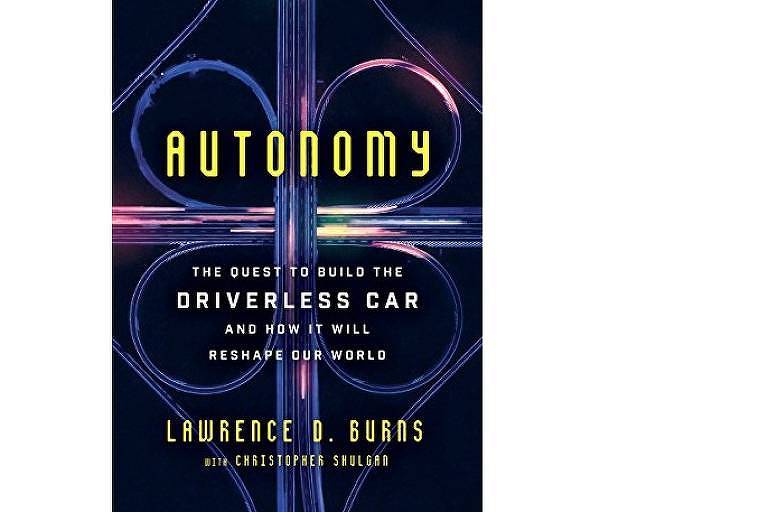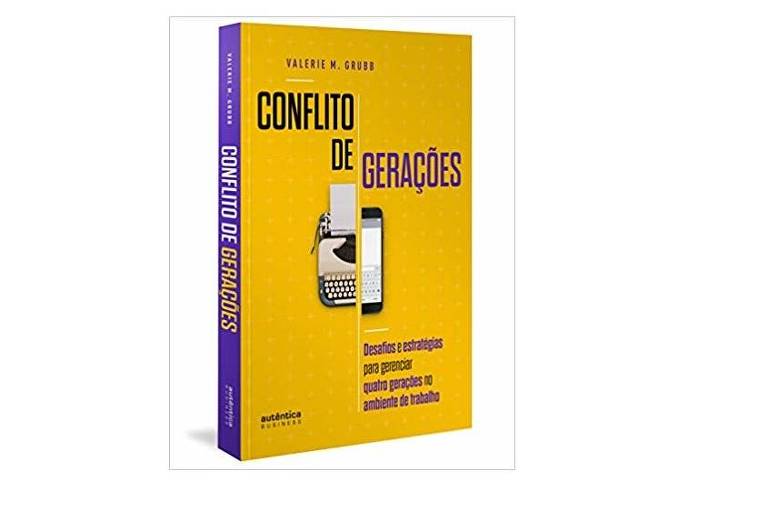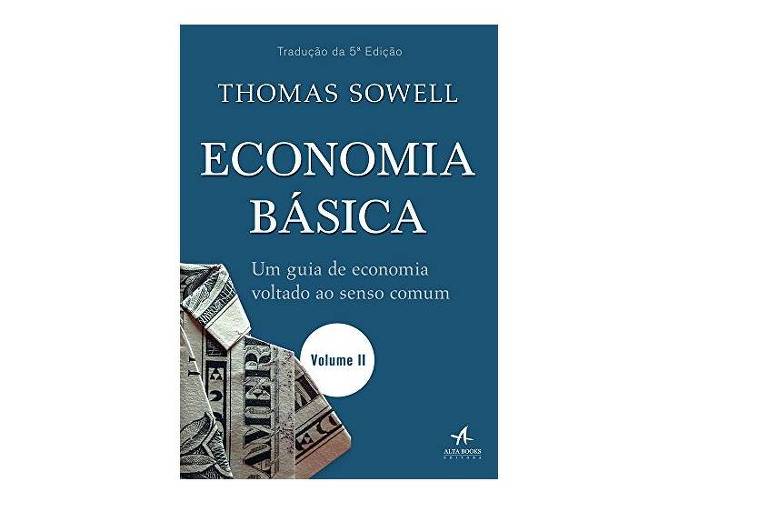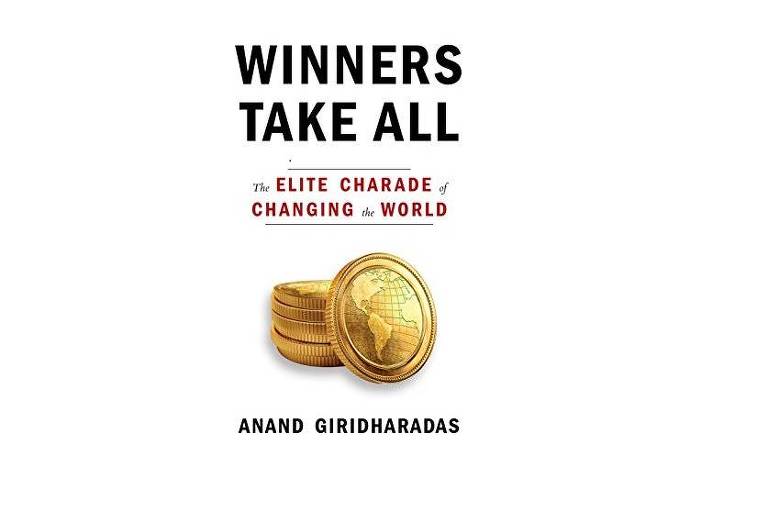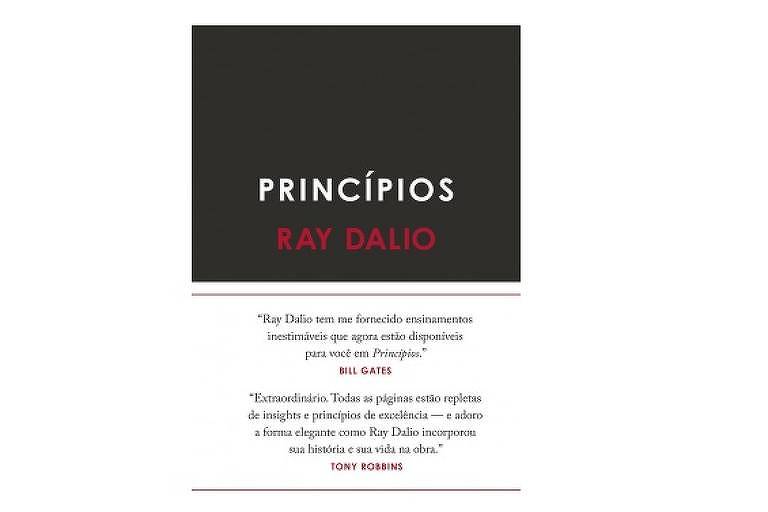Diogo Bercito
WASHINGTON
Quando São Paulo despertou em 1982, depois que um dos casarões da avenida Paulista havia sido destruído na calada da noite, a cidade se deu conta de que havia perdido uma importante porção de sua história. O apelidado Palacete Mourisco, localizado no número 867, era um dos símbolos de sua arquitetura. Desapareceu.
Aquela casa era especialmente importante por ser diferente das demais: estava construída com arcos em ferradura e com pintura em faixas horizontais, emulando o estilo dos antigos palácios mouriscos, um estilo associado ao islã e aos árabes. Assemelhava-se, em especial, aos edifícios de Córdoba, uma cidade espanhola que esteve sob domínio de árabes do século 8 ao 13.
Essa história, materialmente perdida, tem sido recuperada intelectualmente pelo historiador Renato Cristofi. Em 2016, ele defendeu na USP uma dissertação de mestrado sobre o que chamou de “orientalismo arquitetônico de São Paulo”. No texto, disponível na internet, mapeou as edificações de inspiração árabe e islâmica na cidade de 1885 a 1937. O trabalho deve ser publicado em um livro.
Cristofi documentou a vida e a morte de diversas das construções e registrou com o auxílio de uma fotógrafa os poucos endereços que seguem de pé —o melhor exemplo é o Palacete Rosa, da família de industrialistas libaneses Jafet, mesclando elementos da arquitetura de influência árabe na península Ibérica e um estilo persa. Tombada, a casa segue conservada na rua Bom Pastor, no Ipiranga (zona sul).
A teoria de Cristofi é de que aquelas construções faziam parte do complexo processo de integração das massas de imigrantes de origem árabe, em especial sírio-libaneses, que chegavam ao Brasil naquelas décadas.
Eram casas vistosas para dar testemunho do sucesso daquelas pessoas que, fugidas de crises no Oriente Médio, tinham tido sucesso no país —os novos edifícios seriam, pois, seus lares depois dos anos de comércio na rua 25 de Março, ainda hoje associada a eles.
Por outro lado, as construções traziam elementos orientais para reforçar uma origem étnica única de que se orgulhavam e que não rejeitavam. “Essa arquitetura é um elemento de representação específico na cidade”, Cristofi diz à Folha.
“Ela mostra como esses imigrantes sinalizavam junto à elite que eles eram um grupo em ascensão. Algo que os italianos também estavam fazendo, por exemplo, com o casarão que Francesco Matarazzo construiu na Paulista.”
Um dos elementos únicos da trajetória arquitetônica dos imigrantes de origem sírio-libanesa, porém, era o uso específico que faziam dos elementos culturais.
O Palacete Mourisco, afinal, evocava o apogeu de Granada e de Córdoba, na península Ibérica. Tinha, portanto, um estilo com o qual os sírios e libaneses de São Paulo não estavam acostumados —eles vinham do outro lado do Mediterrâneo, de uma terra distante da Espanha. Mas, quando decidiram construir suas casas, procuraram aquilo que era entendido como “árabe” no Brasil.
Cristofi diz, nesse sentido, que não era uma arquitetura exatamente mourisca ou árabe, mas orientalista. Com a palavra, ele se refere a uma teoria popularizada pelo crítico literário palestino-americano Edward Said em seu clássico “Orientalismo”, um livro publicado em 1978.
A obra de Said era uma dura crítica à visão essencialista dos europeus quanto à cultura do que consideravam ser o Oriente. Era uma maneira específica de entender a região, não necessariamente fundada na realidade. Algo como essa arquitetura paulistana, que se apropriava de elementos de inspiração árabe para projetar uma identidade sírio-libanesa.
O fenômeno envolvia não apenas o imigrante, que pagava pela construção daqueles edifícios, mas também os arquitetos contratados para o trabalho. Também por isso o resultado não era exatamente um espelho do país-natal.
O Palacete Mourisco, por exemplo, foi construído em 1896 com estilo francês. Foi só em sua reforma, em 1933, que o dono, Abraão Andraus, um industrialista libanês, pediu ao descendente de italianos José Câmera que lhe entregasse um casarão orientalista.
“Esse tipo de projeto era feito por meio de repertórios, tanto do ponto de vista do proprietário quanto do construtor”, diz Cristofi.
Os arquitetos recorriam a manuais de tipos arquitetônicos, comuns naquela época, e buscavam exemplos de estilo de inspiração árabe.
Copiavam, assim, os arcos em ferradura dos palácios de Granada, um dos elementos mais recorrentes. “Era uma dinâmica de reinvenção de identidade”, afirma o autor. “É um processo constante vivido por essas pessoas, que se esforçavam para romper os preconceitos originais. Insistiam à população local que eles eram cristãos e, portanto, próximos dela. Essa inserção acontecia principalmente pela dinâmica do trabalho.”
Os imigrantes se orgulhavam de terem ascendido socialmente por meio de seus esforços. Muitos deles tinham começado como caixeiros-viajantes, transcorrendo o território nacional com suas mercadorias nas costas, em um país cuja língua não falavam. “A ostentação dos palacetes tinha essa intenção, de apresentar um requinte, um luxo, dando o testemunho daquela trajetória.”
Era o caso, algo literal, do Palacete Mourisco. Os capitéis da colunas —hoje destruídas— retratavam a trajetória de Abraão Andraus, da vida de caixeiro-viajante até o comércio e a indústria. “A casa, portanto, faz parte desse elemento narrativo da ascensão econômica e social.”
“Tinha essa mensagem de que ‘estou saindo do grupo migrante, deixando a 25 de Março, mas mantenho minha identidade’”, afirma.