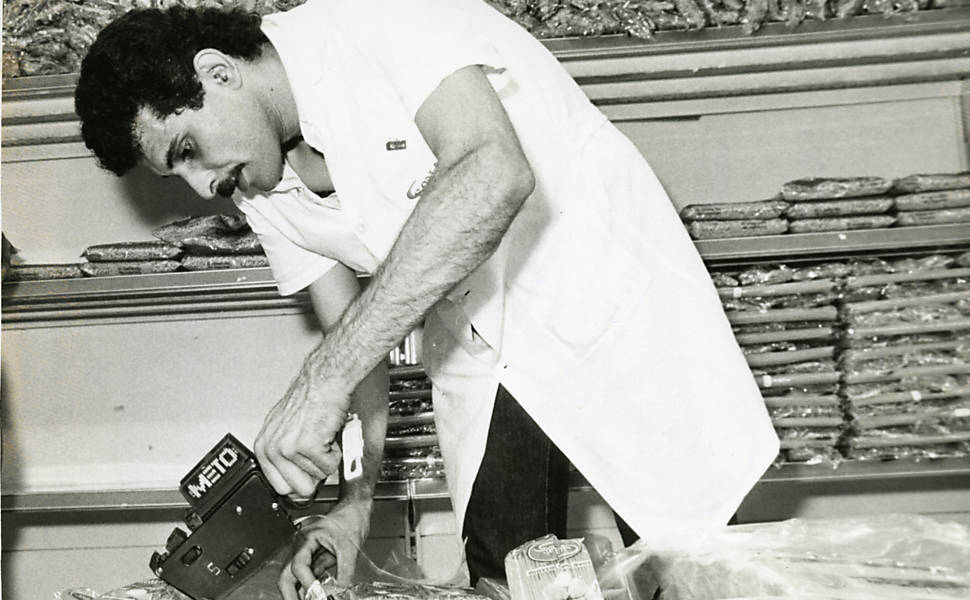Prestes a completar 30 anos, o Plano Real hoje é visto como um grande feito, por ter conseguido retirar o país de uma espiral de descontrole da inflação que marcou diferentes gerações.
Experiências frustradas —como o Plano Cruzado e o Plano Collor— ainda estavam frescas na memória da população, e as desconfianças com aquela nova tentativa de estabilização proposta pelo governo Itamar Franco eram naturais, inclusive por parte dos economistas.
Mesmo os que viam no Plano Real um projeto mais sofisticado do que as tentativas anteriores temiam perdas salariais, instabilidade nos anos seguintes e falta de iniciativa política por um ajuste fiscal.
Ex-ministro da Fazenda durante o governo José Sarney, Luiz Carlos Bresser-Pereira ressaltava que o real tinha mais chances de dar certo do que os planos anteriores —inclusive o seu Plano Bresser, de 1987— pela coordenação prévia dos preços por meio da URV (Unidade Real de Valor), criada para a transição do cruzeiro real para o real.
"É certamente, entre os 13 planos de estabilização tentados no Brasil desde que se iniciou a presente crise, em 1979, o de melhor concepção", escreveu, em artigo na edição de outubro de 1994 da "Revista de Economia Política".
Bresser-Pereira, no entanto, demonstrava preocupação com a âncora cambial adotada pela equipe econômica e apontava para os problemas estruturais da economia brasileira.
Em artigo publicado na Folha em fevereiro de 1994, ele procurou reduzir as preocupações da época sobre perdas salariais, mas ponderou que o plano deveria ser acompanhado "por um acordo social mínimo", envolvendo governo, empregadores e a estrutura sindical.
"O Plano FHC [...] prevê um mecanismo basicamente de mercado para garantir o equilíbrio dos preços relativos no momento da estabilização —a URV. Mas os mecanismos de mercado jamais são perfeitos. Por isso, além de controlar os monopólios e oligopólios, como, aliás, o governo já está se preparando para fazer, um acordo social mínimo é necessário."
Antes do lançamento da nova moeda, Maria da Conceição Tavares qualificou o plano de "maquiavélico", tecnicamente "imelhorável" e "Cruzado dos ricos", por impedir que os pobres e a classe média soubessem, sequer, a perda que teriam em seus salários.
A "engenhosidade" do plano, segundo a economista, estava centrada em dois artigos: o primeiro, que instituiu a URV (Unidade Real de Valor) exclusivamente como padrão de valor monetário, e o que extinguiu o índice de correção do salário mínimo.
"O plano nos impôs uma perda cavalar que não tem como ser medida", afirmou a economista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), na época, uma das principais críticas do projeto.
Conhecida por suas intervenções apaixonadas e tendo sido professora de uma legião de economistas, ela, que morreu no último dia 8, costuma ser lembrada também por ter se emocionado com o Plano Cruzado (lançado em 1986 e que acabou fracassando), enquanto guardava profunda desconfiança do Plano Real.
"O elogio que ela fez ao Plano Cruzado foi antes da implementação, porque muitos economistas sugeriam que era necessário fazer junto uma renegociação da dívida externa e não era possível segurar o congelamento de preços por muito tempo", lembra Pedro Paulo Zahluth Bastos, também da Unicamp.
"Essa renegociação da dívida, de fato, só ocorreria depois que ficou claro que ela estava certa ao dizer que sem fazer uma renegociação e simplesmente congelar a taxa de câmbio, você teria uma crise cambial", complementa.
Em 1º de julho, a professora disse à Folha que, no Plano Cruzado, os economistas do governo fizeram "estelionato eleitoral", mas que antes tinham aumentado a capacidade de compra do salário mínimo.
Em uma entrevista antes da eleição daquele ano, ela também disse que Fernando Henrique Cardoso traiu as suas ideias e se transformara no candidato das "elites conservadoras". E chamou a candidatura do tucano de "fraude constrangedora".
Segundo Bastos, uma das preocupações é que, mesmo que o salário mínimo real tenha começado a aumentar durante o novo plano, como o Brasil estava sujeito a uma crise de balança de pagamentos, isso acabaria provocando um empobrecimento posterior.
Bastos lembra que as críticas de Maria da Conceição Tavares em relação ao Plano Real se deram em um contexto de mudanças no cenário internacional.
"Vários outros países na América Latina já tinham executado um programa semelhante, com a diferença da URV. Mas, no fundo, o que garantiu a estabilização monetária foi exatamente ter condições agora, ao contrário do que tinha na época do Plano Cruzado, de refinanciar o balanço de pagamentos, pela entrada de capital externo."
Segundo ele, o que a professora apontava era já havia um processo de elevação da taxa de juros nos Estados Unidos que traria dificuldades. É nesse período que o México começa já a ter problemas, e o Brasil estava seguindo o mesmo tipo de política que tinha provocado a crise lá, diz.
"Maria da Conceição conseguiu influenciar muito o governo Lula no sentido de aumentar a demanda popular, mas por outro lado não conseguiu no sentido de fazer uma política monetária diferente daquela realizada durante o Plano Real, de juros altos e uma moeda com valor muito baixo", completa.
Já o professor Yoshiaki Nakano, que foi diretor da FGV EAESP (Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas), tinha preocupações sobre a sustentabilidade da âncora cambial e os riscos de um ajuste fiscal insuficiente.
"O problema é que o Plano Real interrompeu a inflação, utilizando da âncora cambial, mas manteve intacto todo o regime monetário do período de hiperinflação até hoje. E aquilo que era funcional no período de hiperinflação tornou-se extremamente danoso para a economia brasileira", escreveu, em um artigo de 2012.
O economista, que é um dos mais importantes pensadores da questão da inflação no Brasil, tendo trabalhado em parceria com Bresser-Pereira em um famoso estudo sobre a inflação inercial, pedia reformas estruturais para garantir a estabilidade econômica a longo prazo.
Luiz Gonzaga Belluzzo, também da Unicamp, era outro que demonstrava preocupações com o futuro da nova moeda —apesar de considerá-la um projeto muito mais eficaz do que o Plano Cruzado.
Em um artigo publicado na Folha, em outubro de 1994, ele apontava que a conversão dos salários pela média e a criação da URV foram decisivos, mas que o processo ainda apresentava dúvidas.
Em maio de 1996, uma reportagem com o título de "Real não produzirá estabilidade" trazia outros desses apontamentos. Nela, Belluzzo mostrava preocupação de que o plano não conseguiria gerar uma estabilidade monetária duradoura. Caso desse certo, o resultado seria uma economia "medíocre e sem crescimento".
"É isso mesmo", recorda hoje o economista, no aniversário de 30 anos do plano de estabilização, também apontando os juros reais elevados como um fator de trava para a economia. "Estava preocupado com a Selic [os juros básicos], em uma época de juros reais na casa dos 26%. Evidentemente, é muito difícil que uma economia tivesse um desempenho favorável com essas condições."
Belluzzo reforça que o segundo mandato de FHC, a partir de 1999, se deu em um cenário de crise internacional e no Brasil.
"Quem executou o plano o fez com valorização cambial muito forte e taxa de juros elevadíssima. Em um momento em que a China estava avançando, nós começamos a perder posição no processo de difusão da industrialização. O Brasil ficava para trás."
O professor ponderava na década de 1990 que o governo FHC perdeu a chance de fazer uma reforma fiscal nos primeiros anos do plano.
"Foi um período de baixíssimo crescimento e foi assim que o presidente Lula pegou a economia, em 2003. Na campanha, Lula tinha sido obrigado a fazer a 'carta aos brasileiros', para dizer que não faria nenhuma 'maluquice' e manteve o mesmo rumo. As coisas só melhoraram com o ciclo de commodities."