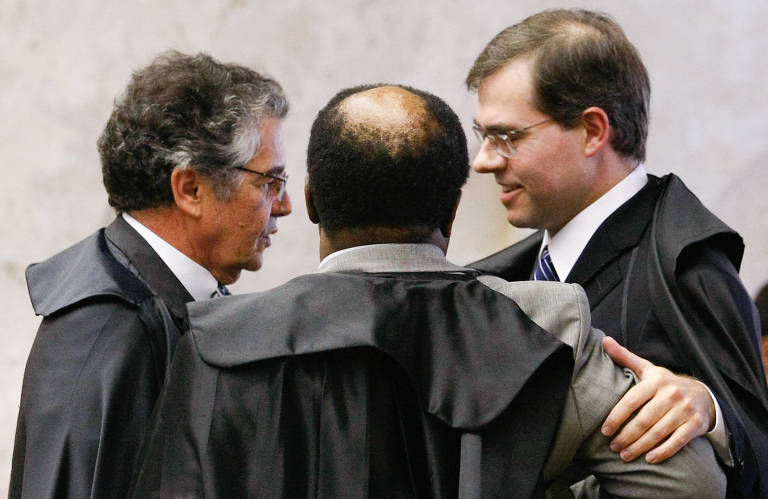31 de julho de 2020 | 05h01
O primeiro caso de covid-19 brasileiro foi diagnosticado em 26 de fevereiro. Estamos com 2,5 milhões de casos e mais de 90 mil mortes. Qual o balanço? A primeira indagação a ser feita: existe um genocídio? Manaus – que enterrava 30 pessoas por dia – chegou a enterrar 160 e o fez em valas coletivas, como ocorre em situações de guerra e de grandes emergências. Colapsaram hospitais e cemitérios. Além dos óbitos, ainda não contabilizáveis entre populações indígenas no Amazonas, em Roraima e mais recentemente no Xingu. São populações de responsabilidade federal de acordo com a Constituição Federal.
LEIA TAMBÉM
Com mais de 2,5 milhões de casos, Brasil passa das 90 mil vidas perdidas para o coronavírus
A epidemia cresce em alguns Estados e caminha para a interiorização, está estagnada naqueles em que teve rápida propagação e estabilizada em um ponto elevado em outros Estados. Certamente os casos foram fruto da exposição de grupos de pessoas que são, em grande parte, dependentes da economia informal e os dados comprovam isso – mais casos e mais óbitos entre pobres e negros nas periferias das grandes cidades.
Os pobres e negros seriam uma preferência do vírus? Claro que não, somente devido à exposição. O vírus infecta quem o encontra e este é o caso dos pobres. E também os mata proporcionalmente.
Quem ficou em casa está esperando a flexibilização e quando esta chegar vão marcar encontro com o vírus e ter sua chance. Este momento está chegando. Onde ocorreu a flexibilização quem saiu foi quem já estava saindo – ou por ser pobre e ter de encontrar comida ou por ser trabalhador dos setores que não reduziram atividade.
Agora se fala da importância de voltar às aulas. Recuperar em três meses o ano perdido. São cerca de 50 milhões de pessoas entre alunos, professores e pessoal de apoio. Grande parte estava em casa. Os prontos-socorros infantis vazios são a prova do sucesso do isolamento. Provavelmente a liberação dos alunos, por mais cuidadosa que seja, vai provocar casos entre eles e nós, adultos, que estamos em casa. Valerá a pena? Discutiremos escola a escola, casa a casa? Em um país sem governo?
Como tomar decisões sobre flexibilização? Primeiro, tem de testar para diagnosticar e isolar novos casos para não aumentar o total de infectados. Mas o Brasil testa três casos por paciente diagnosticado, em comparação com os 10 a 30 nos países europeus. E o governo federal não reconhece seu papel nessa lide.
E pior: está na hora de usar os testes sorológicos de forma inteligente para saber qual parte da população já teve a doença. Temos de patrocinar pesquisas como a da Universidade Federal de Pelotas. O Ministério da Saúde vinha financiando a pesquisa, que tem seis fases, mas por alguma razão mal explicada resolveu parar na terceira. Não quer saber o que está ocorrendo. Impressionante.
Também desistiu, mesmo sendo o maior financiador do SUS (o governo federal é responsável por 50% do dinheiro do SUS), de resolver ou ajudar a resolver os graves problemas de abastecimento de medicamentos essenciais para tratar os pacientes, como os anestésicos e relaxantes musculares. Falta no Brasil e teremos de importar. Problema dos Estados e municípios!
Mas sobra cloroquina, os estoques estão abarrotados. E vários municípios, nessa funérea confusão, criam filas para distribuir kits de medicamentos sem uma prescrição médica nem indicação clínica! Isso pode. Os conselhos e associações corporativistas defendem o ato médico e calam frente a esse processo criminoso de distribuição de medicamentos. E depois de tudo isso nos insurgimos contra o ativismo jurídico! Só sobrou o Judiciário para pôr ordem na casa e cessar o genocídio.
* É medico sanitarista