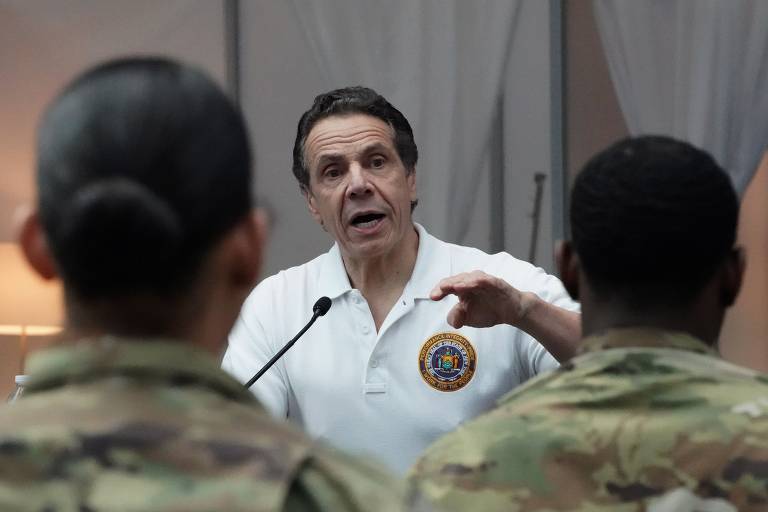Para best-seller israelense, pandemia nos fará redobrar os esforços para proteger e prolongar a vida
[RESUMO] Historiador israelense argumenta que a pandemia, embora nos faça confrontar a fragilidade de cada um, provavelmente não mudará a atitude humana moderna que vê no fim da vida não mais uma decisão divina inevitável, mas sim um problema técnico que pode ser solucionado pela ciência.
O mundo moderno foi moldado pela ideia de que os humanos podem passar a perna na morte ou derrotá-la. Foi uma atitude nova e revolucionária. Ao longo de quase toda a história, os humanos se sujeitaram à morte, sem reclamar.
Até o final da Idade Moderna, as religiões e as ideologias, em sua maioria, encaravam a morte não como nosso destino inevitável, mas como a principal fonte de sentido da vida. Os eventos mais importantes da existência humana só ocorriam depois de a pessoa dar seu último suspiro. Só então ela descobriria os verdadeiros segredos da vida. Só então ganharia a salvação eterna ou seria condenada ao sofrimento perpétuo.
Em um mundo sem morte —logo, sem céu, inferno ou reencarnação—, religiões como o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo não teriam feito sentido. Durante a maior parte da história, as melhores cabeças humanas se ocuparam não em tentar derrotar a morte, mas em tentar entender seu sentido.
O “Épico de Gilgamesh”, o mito de Orfeu e Eurídice, a Bíblia, o Alcorão, os Vedas e incontáveis outros livros e relatos sagrados explicaram pacientemente aos humanos angustiados que morremos porque Deus decretou assim —ou então o Cosmos ou a Mãe Natureza—, e o melhor a fazer é aceitar esse destino com humildade e graça.
Talvez algum dia Deus abolisse a morte com um grande gesto metafísico, como o retorno de Cristo à Terra. Contudo, orquestrar cataclismos desse tipo, evidentemente, era algo que estava fora do alcance dos humanos de carne e osso.
Então, veio a revolução científica. Para os cientistas, a morte não é um decreto divino —é apenas um problema técnico. Os humanos morrem não porque Deus decidiu que assim será, mas por causa de alguma falha técnica. O coração parou de bombear sangue. O câncer destruiu o fígado. Vírus se multiplicaram nos pulmões. E quem é o responsável por todos esses problemas técnicos? Outros problemas técnicos.
O coração para de bombear sangue porque o músculo cardíaco não recebeu oxigênio suficiente. As células cancerosas se multiplicam no fígado devido a alguma mutação genética aleatória. Vírus se instalaram nos meus pulmões porque alguém espirrou no ônibus. Não há nada de metafísico nisso.
E a ciência acredita que cada problema técnico tem uma solução técnica. Não precisamos esperar o retorno de Cristo à Terra para superarmos a morte. Alguns cientistas em um laboratório darão conta do recado. Enquanto tradicionalmente a morte era a especialidade de padres e teólogos de batina preta, agora dela se ocupam profissionais de laboratório vestidos de aventais brancos.
Se o coração bate irregularmente, podemos estimulá-lo com um marca-passo ou até transplantar um novo órgão. Se o câncer devasta o corpo humano, podemos matá-lo com radiação. Se vírus proliferam nos pulmões, podemos subjugá-los com algum remédio novo.
É verdade que, hoje, não somos capazes de resolver todos os problemas técnicos. Trabalhamos, porém, para isso. As melhores mentes humanas não passam mais tempo tentando identificar o sentido da morte. Em vez disso, estão ocupadas prolongando a vida. Estão pesquisando os sistemas microbiológicos, fisiológicos e genéticos responsáveis pela doença e pela velhice, desenvolvendo novos medicamentos e tratamentos revolucionários.
Os humanos têm sido altamente bem-sucedidos em sua luta para prolongar a vida. Nos últimos dois séculos, a expectativa média de vida passou de menos de 40 anos para 72 anos em todo o mundo e para mais de 80 em alguns países desenvolvidos.
As crianças, em especial, vêm conseguindo escapar das garras da morte. Até o século 20, pelo menos um terço delas nunca chegava até a idade adulta. Morriam rotineiramente de doenças infantis como disenteria, sarampo e varíola. Na Inglaterra do século 17, cerca de 150 em cada 1.000 recém-nascidos morriam no primeiro ano de vida, e apenas cerca de 700 crianças chegavam a completar 15 anos.
Hoje, apenas 5 em cada 1.000 bebês ingleses morrem no primeiro ano de vida, e 993 chegam a festejar seu aniversário de 15 anos. A mortalidade infantil no mundo todo caiu para menos de 5%.
Temos tido tanto êxito no esforço para proteger e prolongar a vida que nossa visão de mundo mudou profundamente. Enquanto as religiões tradicionais encaravam a vida após a morte como a principal fonte de sentido, a partir do século 18 ideologias como o liberalismo, o socialismo e o feminismo perderam qualquer interesse pelo além-túmulo.
O que, exatamente, acontece a um comunista depois que ele ou ela morre? O que acontece a um capitalista? O que acontece a uma feminista? Inútil procurar a resposta nos escritos de Karl Marx, Adam Smith ou Simone de Beauvoir.
A única ideologia moderna que ainda confere um papel central à morte é o nacionalismo. Em seus momentos mais poéticos e desesperados, promete a quem morrer pela nação a vida eterna em sua memória coletiva. Essa promessa, porém, é tão imprecisa que nem mesmo a maioria dos nacionalistas sabe como interpretá-la. Como alguém realmente “vive” na memória? Se você está morto, como pode saber se as pessoas se lembram de você ou não?
Alguém perguntou a Woody Allen uma vez se ele esperava viver para sempre na memória dos cinéfilos. Ele respondeu: “Eu preferiria viver para sempre no meu apartamento”.
Mesmo muitas religiões tradicionais mudaram de foco. Em vez de prometer alguma espécie de paraíso após a morte, começaram a dar ênfase muito maior ao que podem fazer por nós nesta vida.
A pandemia atual vai mudar as atitudes humanas em relação à morte? É provável que não. Muito pelo contrário. O mais provável é que só nos leve a redobrar nossos esforços para proteger vidas humanas, pois a reação cultural dominante à Covid-19 não é a resignação —é uma mistura de indignação e esperança.
Quando uma epidemia acometia uma sociedade pré-moderna como a Europa medieval, as pessoas naturalmente temiam por suas vidas e se sentiam devastadas com a morte de seus entes queridos, mas a principal reação cultural era a resignação.
Os psicólogos podem chamar isso de “desamparo aprendido”. As pessoas diziam a si mesmas que essa era a vontade divina —ou, quem sabe, sinal de que Deus estava castigando a humanidade por seus pecados. “Deus é quem sabe. Nós, humanos perversos, merecemos o que está acontecendo. E você verá que tudo acabará bem no final. Não se preocupe, as pessoas boas terão sua recompensa no céu. E não perca tempo procurando um remédio. Esta doença foi enviada por Deus para nos castigar. Quem pensa que nós, humanos, podemos superar esta epidemia com nossa própria inteligência e inventividade está apenas acrescentando o pecado da vaidade a seus outros erros. Quem somos nós para frustrar os planos de Deus?”
As atitudes de hoje são o oposto absoluto disso. Sempre que algum desastre provoca muitas mortes —um acidente ferroviário, um incêndio em um arranha-céu, até mesmo um furacão—, tendemos a enxergar o ocorrido como fruto de uma falha humana que poderia ter sido evitada, não como castigo divino ou calamidade natural inevitável.
Se a empresa ferroviária não economizasse em seus gastos com a segurança, se o município tivesse adotado normas anti-incêndio melhores, se o governo tivesse enviado socorro antes essas pessoas poderiam ter sido salvas. No século 21, a morte em massa automaticamente provoca investigações e processos judiciais.
Essa é também a nossa atitude em relação às pestes. Enquanto alguns pregadores religiosos se apressaram a descrever a Aids como o castigo imposto por Deus aos gays, a sociedade moderna, numa atitude mais compassiva, relegou esse tipo de ponto de vista às suas franjas lunáticas, e, hoje em dia, geralmente encaramos a propagação da Aids, do ebola e de outras epidemias recentes como falhas organizacionais.
Partimos do pressuposto de que a humanidade tem o conhecimento e as ferramentas necessários para controlar essas pragas, e que se uma doença infecciosa sai de controle mesmo assim, isso se deve mais à incompetência humana que à ira divina.
A Covid-19 não é uma exceção a essa regra. A crise está longe de terminar, mas o jogo de atribuição de culpa já começou. Diferentes países acusam uns aos outros. Políticos rivais jogam a responsabilidade de um para outro, como se fosse uma granada de mão sem pino.
Ao lado da indignação, também há uma quantidade tremenda de esperança. Nossos heróis não são os sacerdotes que enterram os mortos e justificam a calamidade —são os médicos que salvam vidas. E nossos super-heróis são os cientistas nos laboratórios.
Assim como os frequentadores de cinema sabem que o Homem Aranha e a Mulher Maravilha vão acabar derrotando os vilões e salvando o mundo, também nós temos a certeza absoluta de que, dentro de alguns meses ou um ano, os profissionais nos laboratórios vão descobrir tratamentos eficazes para a Covid-19 e até mesmo uma vacina.
Então vamos mostrar a esse coronavírus sórdido quem é o organismo alfa deste planeta! A pergunta que está na boca de todos, da Casa Branca até as sacadas da Itália, passando por Wall Street, é “quando a vacina vai ficar pronta?” “Quando”, não “se”.
Quando a vacina ficar pronta e a pandemia acabar, qual será a principal lição que a humanidade terá aprendido? O mais provável é que seja que precisamos investir ainda mais esforços na proteção da vida humana. Precisamos contar com mais hospitais, mais médicos, mais enfermeiros.
Precisamos formar estoques maiores de respiradores, equipamentos de proteção, kits de teste. Precisamos investir mais dinheiro na pesquisa de patógenos desconhecidos e no desenvolvimento de tratamentos novos. Não podemos ser pegos de surpresa mais uma vez.
Algumas pessoas talvez argumentem que essa é a lição equivocada a tirar e que a crise deveria nos ensinar a humildade. Não deveríamos ter tanta certeza de nossa capacidade de subjugar as forças da natureza. Muitas dessas figuras do contra são pessoas que se aferram às ideias medievais, que pregam a humildade, mas têm 100% de certeza de que sabem quais são as respostas certas.
Alguns fanáticos não conseguem deixar de pensar assim —por exemplo, um pastor que comanda o estudo semanal da Bíblia no gabinete de Donald Trump argumentou que esta epidemia também é um castigo de Deus por causa da homossexualidade. Hoje, porém, mesmo a maioria dos defensores ferrenhos da tradição deposita sua esperança mais na ciência que nas escrituras sagradas.
A Igreja Católica orientou os fiéis a ficar longe das igrejas. Israel fechou suas sinagogas. A República Islâmica do Irã está desencorajando as pessoas de ir às mesquitas. Templos e seitas de todos os tipos suspenderam suas cerimônias públicas. E tudo isso porque os cientistas fizeram cálculos e recomendaram que esses locais sagrados fossem fechados.
Nem todos, é claro, que nos advertem sobre a arrogância humana sonham em termos medievais. Mesmo os cientistas concordam que precisamos ser realistas em nossas expectativas e não desenvolver uma fé cega no poder dos médicos de nos proteger de todas as calamidades da vida.
Enquanto a humanidade como um todo vai ficando cada vez mais poderosa, os indivíduos ainda precisam confrontar sua fragilidade. Dentro de um ou dois séculos, talvez a ciência consiga prolongar a vida humana por tempo indeterminado, mas ela ainda não o faz. Com a possível exceção de um punhado de bebês bilionários, todos nós que estamos aqui vamos morrer um dia e todos vamos perder entes queridos. Precisamos reconhecer que somos transitórios.
Durante séculos, as pessoas usaram a religião como um mecanismo de defesa, acreditando que existiriam para sempre na vida após a morte. Hoje, as pessoas às vezes usam a ciência como um mecanismo de defesa alternativo, acreditando que os médicos sempre as salvarão e que elas poderão viver para sempre em seu apartamento.
Precisamos de uma abordagem equilibrada. Devemos confiar na ciência para fazer frente às epidemias, mas ainda devemos arcar com a responsabilidade de lidar com nossa própria mortalidade e transitoriedade individuais.
A crise atual pode, de fato, levar muitas pessoas a tomar mais consciência da natureza impermanente da vida e das realizações humanas. No entanto, é provável que nossa civilização moderna, como um todo, siga na direção oposta. Confrontada com sua fragilidade, ela reagirá erguendo defesas mais fortes. Quando a crise atual terminar, não espero que veremos um aumento significativo no orçamento dos departamentos de filosofia. Aposto, contudo, que os orçamentos das escolas de medicina e dos sistemas de saúde vão crescer maciçamente.
E talvez isso seja o melhor que possamos humanamente esperar. Os governos não são muito bons com filosofia, de qualquer modo. Não é sua área de atuação. Os governos deveriam concentrar seus esforços em erguer sistemas de saúde melhores. Cabe aos indivíduos fazer filosofia melhor.
Os médicos não podem resolver o enigma da existência para nós. Podem, porém, nos comprar mais tempo para lidar com ele. O que fazemos com esse tempo só depende de nós.
Yuval Noah Harari, historiador israelense, é autor do livro ‘Sapiens: Uma Breve História da Humanidade’ (L&PM), best-seller internacional publicado em mais de 35 países.
Tradução de Clara Allain.