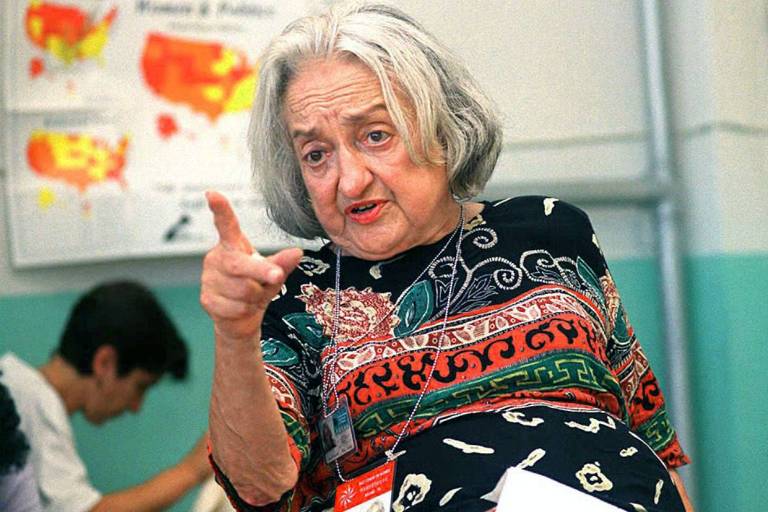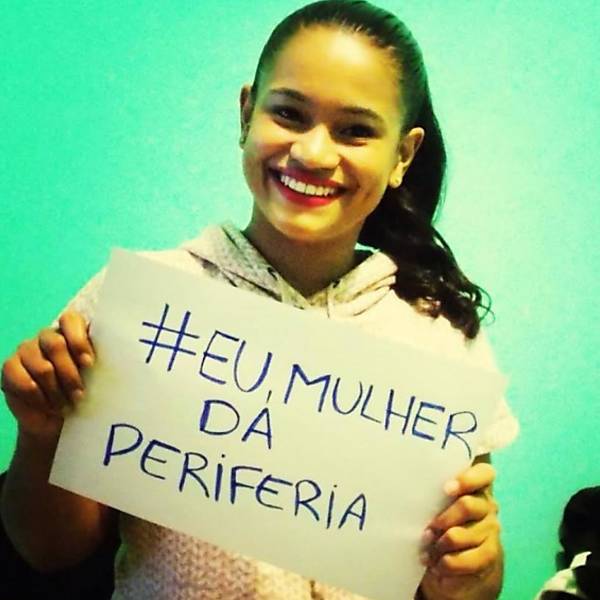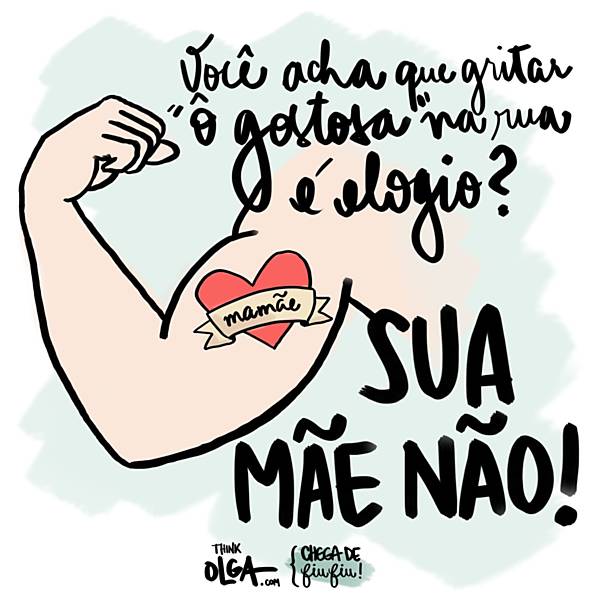aís dá correta prioridade à educação, mas despesa pública é mal distribuída e ineficiente
A produtividade da economia nacional não avança por causa da baixa qualidade da educação pública e da carência de inovação nas empresas. É notório o mau desempenho do ensino público em testes internacionais. O Brasil amarga a 69ª colocação entre 127 nações listadas no Índice Global de Inovação.
Sob tais ângulos, soa alarmante a notícia de que a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) sofrerá corteconsiderável em sua dotação para 2019, de quase R$ 4 bilhões neste ano para algo como R$ 3,3 bilhões.
O Conselho Superior da Capes, um órgão do MEC, propagou que a partir de agosto de 2019 estariam ameaçadas mais de 200 mil bolsas para educadores do ensino básico e para pesquisadores universitários.

Ninguém duvida de que seria desastrosa, para muitos grupos de pesquisa, a suspensão dos pagamentos. Tampouco seria de interesse público que anos de investimento oficial anterior se perdessem com a interrupção de estudos.
O caso ilustra bem como o debate sobre educação e sobre ciência, tecnologia e inovação tende a ser focalizado por um prisma único —verbas estatais— e, com isso, pouco avança. Embora obviamente danosa, a grave restrição orçamentária que o país enfrenta impõe agora que se aprofunde, igualmente, a discussão quanto a sua eficiência.
Começando pelo ensino: o gasto público no Brasil fica entre 5% e 6% do Produto Interno Bruto, sem destoar da média dos mais desenvolvidos. E tem evoluído no sentido de dotar melhor a educação básica (níveis fundamental e médio) na comparação com o nível superior, antes muito mais privilegiado —uma antiga distorção.
A transição demográfica contribuirá para encorpar o desembolso por aluno, uma vez que, pelo IBGE, a população até 19 anos vai cair dos atuais 60,9 milhões para 57,2 milhões em 2030. Ainda assim, o dispêndio per capita demorará a alcançar os de sociedades mais ricas, ainda mais com o ritmo claudicante da economia brasileira.
Deve-se considerar, contudo, que nações com gastos inferiores ou similares por estudante —como México, Colômbia, Turquia, Chile e Argentina— obtêm notas superiores às de brasileiros no exame padronizado global Pisa.
A educação pública só deixará de ser medíocre com ampla reforma gerencial e pedagógica. Ela começa com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma carta de compromisso social com o que cada aluno tem direito de aprender e o professor tem dever de ensinar.
Como indica a experiência bem-sucedida da rede estadual do Ceará, o diretor de cada estabelecimento precisa ter autonomia para fazer obras e alocar recursos, inclusive humanos. A primeira condição para isso é que seja escolhido por mérito, não por indicação política, e premiado por desempenho.
Sem reduzir o alcance da estabilidade dos docentes e funcionários, o dirigente não terá meios de recompensar os melhores e tirar da linha de frente os piores.
Organizações sociais podem e devem ser mobilizadas, até mesmo para gerir escolas inteiras, como se faz em vários municípios para lograr a imprescindível multiplicação de creches e pré-escolas.
No plano da educação de nível superior, há que abandonar o paradigma de vínculo necessário com pesquisa científica e de expansão indiscriminada do sistema.
Em boa hora se pôs cobro à farra perdulária do financiamento estudantil e do programa Ciência sem Fronteiras. Agora cumpre focalizar os parcos recursos em centros de excelência, tanto em instituições de ensino tecnológico quanto em universidades de pesquisa.
Quanto aos gastos com pesquisa e desenvolvimento, a comunidade científica repete o mantra de que é necessário aumentá-los como proporção do PIB. Eles oscilam na marca de 1,3%, contra 2% a 3% em países desenvolvidos.
Atenta-se pouco para o fato de que as despesas governamentais no Brasil, de 0,6% do PIB, não discrepam do que se desembolsa nos EUA e na União Europeia. A divergência ocorre nos investimentos do setor empresarial, que lá somam o dobro ou o triplo.
Na ausência de condições realistas para ampliar o dispêndio público, resta melhorar sua eficácia, tornando mais exigente a concessão de bolsas de pesquisa e aperfeiçoamento. O montante deve acompanhar a disponibilidade de recursos, não a demanda crescente.
O salto de inovação só será dado quando o setor privado passar a investir mais. Isso não acontecerá enquanto as empresas não forem submetidas à competição internacional, com maior abertura da economia, e não se desonerarem da bizantina estrutura tributária que lhes drena a competitividade.
TÓPICOS