[RESUMO] Sob o impacto de cortes efetuados pelo governo em bolsas de pesquisa, autor descreve as barreiras ao ingresso de larga parcela da população na carreira acadêmica, exclusão histórica acentuada pelo quadro de hostilidade às universidades.
No começo de setembro fui aprovado em primeiro lugar para uma bolsa de pós-doutorado em teoria literária na Unicamp. Como era exigida dedicação exclusiva, avisei no meu emprego que precisaria sair. Passamos duas semanas treinando uma pessoa que entraria no meu lugar.
[ x ]
No dia da despedida, descobri pelos jornais que minha bolsa, assim como a de milhares de pesquisadores, havia sido suspensa no bojo dos cortes efetuados pelo governo Bolsonaro na Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
A sensação foi a de ter o chão tirado debaixo dos pés. Por sorte, minha chefe e meus colegas foram compreensivos, e a nova pessoa e eu mantivemos o emprego.
Alguns dias depois, pressões da sociedade levaram o governo a um recuo, retomando parte das bolsas da Capes dos programas com notas mais altas. Minha bolsa foi reativada, mas milhares de estudantes no país perderam, de fato, as suas. Sobretudo os acadêmicos de programas mais novos de pesquisa foram prejudicados, pois houve uma concentração dos recursos nas universidades mais tradicionais.
Esses acontecimentos, somados à experiência como professor no cursinho popular da Uneafro, me levaram a escrever um texto que circulou bastante na internet, no qual refletia a respeito do impacto destrutivo do cenário atual na carreira acadêmica. Recebi muita solidariedade, assim como relatos semelhantes que me fizeram aprofundar a reflexão.
O ponto central é que os cortes nas bolsas dificultam ainda mais o acesso a uma carreira já historicamente restrita a uma ínfima parcela da população: a de professor no ensino superior.
Qualquer análise mais histórica sobre a universidade no país perceberá que, desde a Colônia, nunca houve um projeto de educação superior para a maior parte da população. Até a fuga da família real para o Brasil, não existia interesse na fundação de instituições voltadas a esse objetivo. Os filhos da elite viajavam para Portugal e se formavam lá. O grau era marca de distinção de classe (basta pensar na tradição dos anéis de formatura) e seguiu desta maneira por séculos.
A abertura lenta e concentrada de instituições de ensino superior no último século encontrou uma inegável aceleração apenas nos últimos 15 anos. Por meio de políticas de expansão de universidades públicas e particulares, assim como da adoção das cotas sociais e raciais, camadas da população antes sem perspectiva de formação superior passaram a se ver ocupando, ainda que timidamente, cadeiras em instituições de todo o país.
Nada mais natural, portanto, que alguns desses alunos, ao se descobrirem com perfil de pesquisador/professor, se interessassem pela carreira acadêmica. Se no auge da expansão tal caminho não parecia impossível —afinal, havia universidades sendo abertas por todo o país, à espera dos mestres e doutores que se formavam—, agora, num cenário de poucas vagas e competição acirrada por bolsas, o quadro é bem mais tenebroso.
Em um contexto de crise orçamentária, com a educação sendo abertamente alvo de ataques do governo, reforça-se o perfil elitizado dos docentes. Percebe-se, de modo nítido, quais grupos entrarão na carreira e quais não conseguirão.
Para compreender esse movimento, basta pensar na lógica que rege as relações dentro da academia. A universidade é um espaço que funciona, como poucos, dentro da ideia meritocrática. Do seu ingresso, pelo vestibular, aos concursos docentes, opera a lógica de que os candidatos mais bem preparados conseguiriam as vagas. Isso teria o benefício de garantir os melhores quadros e evitar indicações pessoais ou familiares.
Como se explica, no entanto, que apenas um grupo bastante específico ocupe a carreira docente? A pergunta leva a uma encruzilhada: ou voltamos a acreditar em eugenia (a ideia de que certos grupos e certas famílias seriam mais predispostas à atividade intelectual) ou o sistema meritocrático não está funcionando como se diz.
Basta analisar a estrutura do vestibular para perceber o quanto ele é excludente, o quanto a ideia de mérito fracassa em sua aplicação. Como medir o potencial de um estudante de graduação, se as trajetórias do ensino básico ao médio de um aluno periférico de escola pública e de um aluno de classe alta de escola particular são tão abismalmente diferentes?
O tal mérito é decidido no berço, em uma lógica que faz sentido, no máximo, em relação aos pertencentes ao mesmo grupo social. A carreira acadêmica, ainda que de maneira menos discrepante, segue o mesmo caminho.
Há uma trajetória de muitos funis para se tornar professor de uma universidade pública. Os alunos mais aptos à carreira fazem uma iniciação científica, depois saem da graduação e passam pelo funil do mestrado; daí por um funil menor, no doutorado; daí um funil ainda menor, no pós-doutorado ou na docência.
Alguém pode dizer com certeza que, considerando as desigualdades sociais e, especialmente, o contexto de ataque às universidades e a diminuição de bolsas, os alunos de maior potencial foram selecionados? E os outros pesquisadores que, pelas razões mais diversas — motivação, meios de se sustentar, referências familiares—, tiveram de abandonar a carreira?
Quantas patentes, quantos projetos, quantas leituras apuradas da sociedade ficaram pelo meio do caminho?
Que parcela da população pode se dar ao luxo de investir quase 15 anos de estudo, em uma dedicação quase exclusiva, e considerando-se apenas a formação superior, para só então ingressar numa carreira? Quem pode ter seu primeiro trabalho formal com 30 ou 35 anos?
Quem, depois de adulto e graduado, pode continuar a depender da família por anos e anos para pagar as contas? Quem tem uma família estruturada o bastante para ajudar tanto financeira quanto emocionalmente? Hoje a carreira acadêmica parece reservada aos privilegiados que podem se dedicar a graduação, mestrado e doutorado sem ter que trabalhar.
A realidade de quem precisa, já com 18 anos, ajudar nas contas da família, caso da ampla maioria da população, precisa ser levada em conta se quisermos, de fato, uma universidade que produza e forme a partir do potencial máximo da população brasileira.
Se não está no âmbito da universidade solucionar sozinha os graves problemas sociais do Brasil, ela tem a obrigação de amparar seus alunos —aqueles que, já contra as expectativas, conseguiram passar pelo grande funil do vestibular— para que a carreira acadêmica seja composta pelos que têm mais condição de fazer avançar o conhecimento no Brasil.
A democratização da universidade não é uma questão apenas de justiça social, mas de epistemologia, de método de produção de conhecimento condizente com nossa realidade. Não é segredo nas humanidades que a entrada de pessoas negras e de egressos de escola pública teve grande impacto na pesquisa produzida. Autores e temáticas que antes recebiam olhar secundário do cânone ganham agora mais destaque, com impacto social relevante.
O mesmo se dá em outras áreas do conhecimento. Na medicina, na engenharia, nas ciências exatas, a simples presença de corpos até então estranhos tem o potencial de levantar questões e métodos à margem dos interesses acadêmicos vigentes.
As universidades europeias já descobriram há muito tempo a necessidade de incluir membros de todos os setores sociais (e fazem esforço para importar alunos com potencial de outros países). Vamos continuar perdendo professores e pesquisadores, muitos deles com parte da formação feita, para empregos que exigem pouco preparo?
É, portanto, obrigação social e epistemológica da universidade oferecer recursos na forma de amparo estudantil, políticas de permanência e bolsas de estudo para mitigar a discrepância social que vem de fora dela. Reportagem recente da Folha mostra que apenas 0,8% das pessoas no Brasil concluíram o mestrado e apenas 0,2% chegaram ao doutorado, enquanto a média dos países da OCDE é de 13% e 1,1%, respectivamente.
Com o governo Bolsonaro, corremos o risco de voltar à forma “colonial” no ensino superior. Sem bolsas de estudo, sem perspectiva de uma carreira integral, da primeira iniciação científica à docência, quem se tornará professor na universidade? O mesmo grupo social, os mesmos sobrenomes, produzindo pesquisa que pensa e fala a partir apenas do ponto de vista deste grupo.
A carreira, que carrega tanto a responsabilidade quanto a possibilidade de ajudar a criar um país diferente, vai se tornando um pouco como eram os cartórios antigamente, passados de pai para filho. Uma sociedade atravessada por contradições econômicas brutais como a nossa, diante de um século com desafios para a humanidade como um todo —crises sociais, ambientais, econômicas— não pode se dar a esse luxo.
Poeta e doutor em teoria literária pela USP, faz agora pós-doutorado na mesma área na Unicamp




















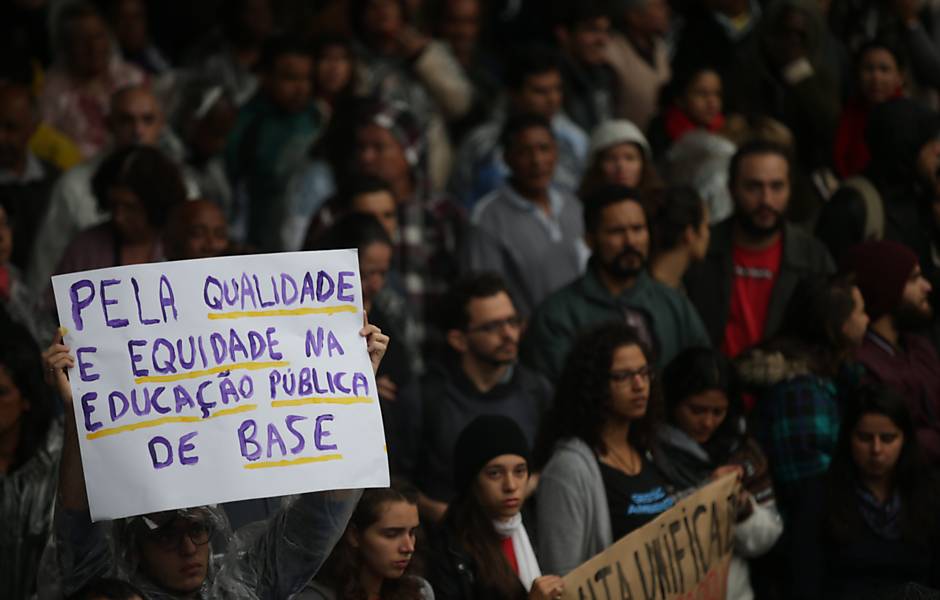




























Nenhum comentário:
Postar um comentário