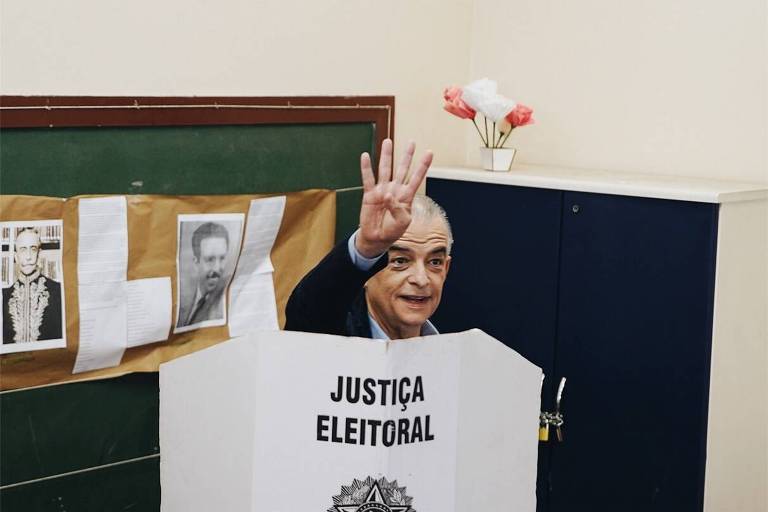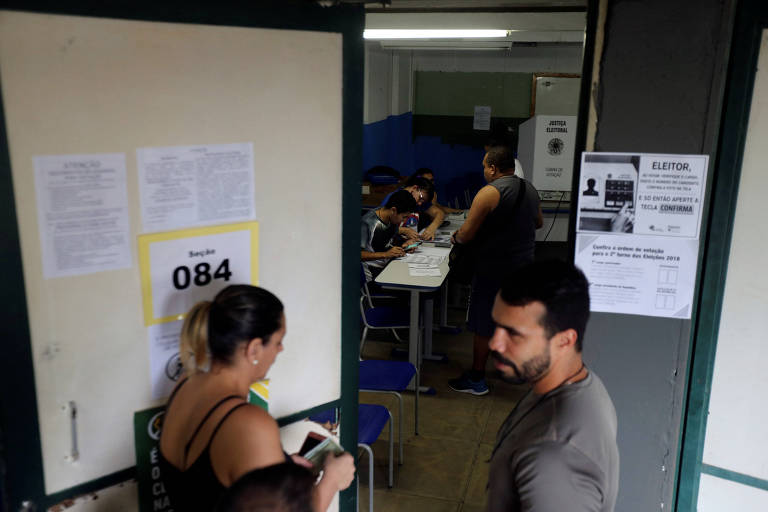Volta e meia alguém ralha comigo por ter tentado argumentar, durante a campanha malcriada de 2018, que a democracia brasileira não estava em risco, qualquer que fosse o resultado das eleições.
Nunca acreditei, por exemplo, que Fernando Haddad, caso eleito, fosse de fato regular a mídia, como constava no programa do PT. Nunca acreditei nas palavras vazias da resolução do diretório nacional petista, após o impeachment, dizendo que um dos grandes erros do partido, no governo, foi não ter "modificado o currículo das academias militares" e promovido os oficiais certos.
Nunca acreditei, da mesma forma, nas bravatas vindas do lado vencedor das eleições, do tipo "um cabo e um soldado", da sugestão sem nexo de colocar mais uns dez ministros no STF, ou mesmo que as simpatias do atual presidente pela ditadura militar representassem, por si só, um risco à democracia.
Se admiração a ditaduras fosse critério de risco democrático, dificilmente teríamos sobrevivido a uma década e meia de poder petista, a menos que só exista risco na simpatia pelas ditaduras do lado errado.
Igualmente, nunca confundi a chamada agenda conservadora, defendida pelo atual presidente, com alguma ameaça à democracia. Pode-se não gostar da tal agenda, mas seus pontos centrais, incluindo itens como a flexibilização da posse de armas e a redução da maioridade penal, foram exaustivamente apresentados na campanha.
Se esta agenda ganhou as eleições, é porque obteve apoio da maioria. Ela é uma expressão de nossa democracia e não um sinal de sua fraqueza.
É evidente que há um longo caminho para que uma agenda se torne realidade. É preciso passar pelo Congresso, enfrentar o debate público, e por fim submeter-se à supervisão do Supremo. É este o longo caminho da democracia, sistema complexo de freios e contrapesos. É por isso que insisti na ideia da democracia como uma máquina de moderar posições. Não porque ela faça com que as pessoas se tornem mais gentis, mas pela sua capacidade de aproximar contrários e criar consensos provisórios na tomada de decisões.
Foi exatamente isso que aconteceu, nestes quatro meses do novo governo. A embaixada do Brasil iria para Jerusalém. Não foi. O projeto Escola sem Partido iria ser implantado. Não foi. A idade penal iria para 17 anos. Não foi. O ministro da Educação iria perfilar os alunos, nas escolas, para ouvir o hino nacional. Não perfilou.
O que aconteceu, como fina ironia, é que a ameaça real à democracia vivida nestes meses veio exatamente daquela que deveria ser a instituição guardiã de nossas liberdades, o Supremo, quando censurou uma revista e puniu cidadãos brasileiros por delito de opinião.
É previsível que os defensores da tese do risco democrático irão continuar encontrando, a cada instante, algum cheiro de autocracia no ar. O professor Yascha Mounk chegou ao Brasil, nesta semana, dizendo que "Bolsonaro ataca a liberdade de expressão".
Inútil perguntar qual o dado empírico que sustenta este tipo de afirmação. A tese do risco democrático é uma dessas ideias fixas que, de tão boa, torna a realidade dispensável. Seu argumento preferido é o de que as democracias podem morrer desde dentro. Não seriam necessários golpes ou violência, apenas a lenta e por vezes imperceptível sabotagem dos próprios governantes.
A tese descreve bem muitos processos históricos, mas quando generalizada torna-se a senha perfeita para todo tipo de invencionice. Uma frase, um tuíte, um corte de recursos, qualquer coisa da qual alguém discorde ou ache um risco à democracia é, por definição, um risco à democracia.
De minha parte, prefiro pensar com um pouco mais de cuidado. Acabamos de sair de uma eleição presidencial que produziu uma ampla renovação política, há reformas estruturais e um debate aberto no Congresso, os poderes funcionam de modo independente, a imprensa é livre e poucas vezes se discutiu tanto, ainda que talvez com tão pouca educação como hoje em dia.
Se alguém quiser ajudar a melhorar a democracia, no Brasil, que aprenda a aceitar a legitimidade do outro. É disso no fundo que é feita a democracia. Quem ganhou a eleição governe e quem perdeu que trate de aprender alguma coisa com a derrota. Um pouco de humildade diante da vida pode ajudar a uns e a outros.