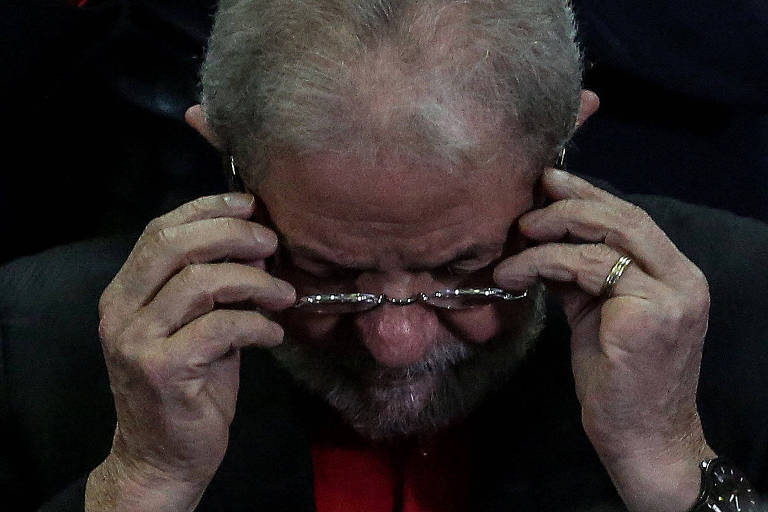Nós gostamos de xingar corruptos e amaldiçoar a corrupção, mas ela é a segunda melhor forma de organização da sociedade. É obviamente menos eficiente do que um sistema no qual tudo funcione direitinho, segundo regras impessoais previamente estabelecidas, mas é superior a um regime no qual empreendimentos e a prestação de serviços possam ser bloqueados apenas pelo capricho de autoridades ou, ainda pior, um no qual as “concorrências” e outras disputas se resolvam à bala. É por ser razoavelmente eficaz —e lucrativa para gente influente— que é tão difícil acabar com ela.
A Lava Jato foi uma tentativa de fazer com que o Brasil passasse do estágio da corrupção disseminada, que marca os países menos desenvolvidos, para um em que ela fosse mais contida. É um objetivo importante, que foi em alguma medida cumprido. Bilhões de reais desviados foram restituídos aos cofres públicos e dezenas de políticos e empresários, que já nos acostumáramos a ver como intocáveis, foram julgados e condenados.
Não há, porém, como defender os erros cometidos pela força-tarefa de Curitiba e pelo ex-juiz Sergio Moro, que, em várias ocasiões, desvirtuaram a interpretação da lei para alcançar seus propósitos condenatórios. Penso que há elementos para anular algumas das sentenças do braço curitibano da operação.
É preciso, porém, muito cuidado para que a necessária correção dos excessos da Lava Jato não se transforme num movimento pró-impunidade. A situação de delicado equilíbrio em que vivíamos no último ano, em que um STF dividido arbitrava as questões ora para um lado, ora para outro, pode ter sido rompida agora que a Procuradoria-Geral da República passou a combater mais abertamente a Lava Jato.
O Brasil já desperdiçou tantas oportunidades que é muito possível que não consigamos mais escapar à chamada armadilha da renda média. Espero que o mesmo não ocorra em relação à corrupção.