Estado da Arte
06 Novembro 2017 | 12h00
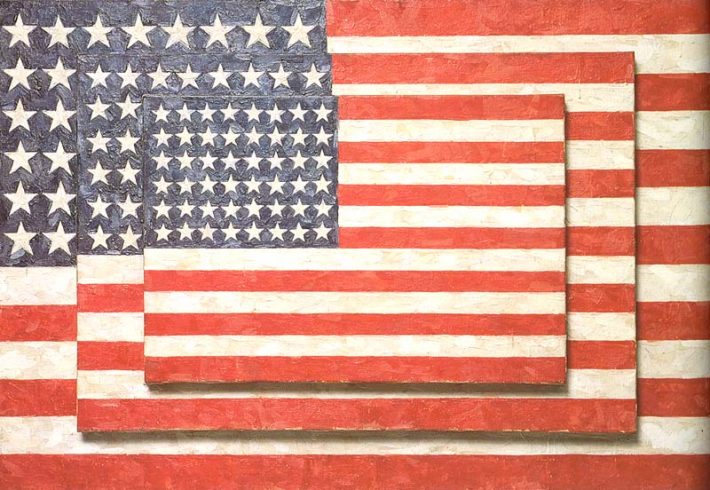
Por Vinícius Müller
Há cem anos começava, simbolicamente, o século vinte. A Grande Guerra (1914-1918) já caminhava para seu quarto ano e os impasses do conflito esgotavam as forças envolvidas. O sonho da civilização europeia da Belle Epoque se apagava como se fosse a última lâmpada do Iluminismo que se pretendia, pois racional, acima das vulgaridades da ideologia. O que de racional sobrevivia era esmagado pelas forças do nacionalismo, do etnicismo e das tentativas desesperadas de manutenção dos impérios que então se enfrentavam naquele que seria o último suspiro do século anterior. Entre eles, aqueles que viviam seus respectivos outonos durante o conflito, como o decadente Império Turco-Otomano, o oscilante Império Russo, o outrora imponente Império dos Habsburgo e o assim chamado Segundo Império Alemão. Esse último, visto por muitos como responsável pela Guerra, vivia sua derrocada após pouco mais de trinta anos de irresistível ascensão produtiva e financeira.
A derrota alemã e o desmembramento do II Reich abriu, de fato, um hiato em meio à Europa e à economia internacional. Nessa esquina da história, o Deutsche Bank estava entre as cinco maiores instituições financeiras do mundo, assim como a produção industrial germânica entre as três mais relevantes. Após a Guerra, as exportações alemãs, segundo conta a magistral obra de Feinstein, Temin e Toniolo (The world economy between the World Wars, Oxford Press, 2008), caiu pela metade do que era em 1913, um reflexo da crise que chegaria em seu ápice em 1923, quando no mês de outubro a hiperinflação chegou a casa dos 29.600%.
Por outro lado, saíram vencedores da Guerra a Inglaterra, a França e os EUA. A primeira com sua liderança anterior abalada. A segunda, mais preocupada com os possíveis novos conflitos com a Alemanha. No caso inglês, a inviabilidade da continuidade do padrão-ouro em época de guerra mostrou que os dois pilares desse modelo de internacionalização financeira e comercial tinham sido seriamente feridos. A necessidade de cooperação, ou seja, de obediência às regras de funcionamento do padrão-ouro pelos países participantes, central para a viabilidade do sistema, não mais fazia sentido aos envolvidos no conflito. E, além da cooperação, a liderança inglesa, também fundamental para a legitimidade do sistema internacional, não mais alcançava a envergadura de antes da Guerra. Portanto, os dois pilares do padrão-ouro, a cooperação e a liderança, foram seriamente atacados durante a Primeira Grande Guerra, e boa parte do mundo não entendia como as relações econômicas internacionais poderiam sobreviver sem estas sustentações.
Contudo, uma nova liderança poderia ter assumido essa posição. Os EUA, após quase um século de relativo isolamento ante as questões europeias, se envolveram diretamente no conflito em 1917, mesmo ano em que o Império Russo, tomado pelos eventos da Revolução Bolchevique, abandonava a Guerra. Nesse contexto, a liderança econômica e militar norte-americana eram visíveis e justificavam a proposta feita pelo então presidente dos EUA, Woodrow Wilson, para a reconstrução das relações internacionais do pós-Guerra. Na proposta de Wilson, duas mudanças significativas foram apresentadas. A primeira apostava numa regulação das relações entre as nações não mais pela liderança de um país, como era a dos ingleses. Em seu lugar, a liderança seria exercida pela institucionalização das regras por meio da criação da Liga das Nações. A segunda mudança versava sobre a ampliação da cooperação por meio do compartilhamento da liderança entre os países membros da Liga das Nações. Ou seja, no plano maior, a liderança era a própria regra institucionalizada. E no plano das operações, a cooperação dependia mais do comprometimento dos países membros, que compartilhariam a responsabilidade sobre o funcionamento das regras, que da legitimidade de uma só liderança. Algo inspirado em uma abordagem kantiana, a proposta de Wilson presumia o equilíbrio entre os países membros, mesmo que a regra fosse criada por um só país. Ao transferir para a regra o papel antes exercido por um país e pressupor que a cooperação só ocorre entre iguais, Wilson lançou as bases do que seria aquela que foi, pelo menos em tese, a mais defendida abordagem das relações internacionais do século vinte: regras institucionalizadas e cooperação entre membros que são considerados iguais em seus direitos no plano internacional.
O certo é, todavia, que essa liderança em potencial dos EUA logo após o término da Primeira Guerra não se concretizou. A própria resistência francesa aos princípios da proposta de Wilson esvaziou a Liga das Nações que, para muitos, nasceu às vésperas da morte. Essa dubiedade da liderança norte-americana, franca na questão militar e econômica, mas ainda frágil na questão política, diplomática, filosófica e ideológica, não só tornou a Liga das Nações improdutiva e, ao longo dos anos, ineficaz, como possibilitou uma série de aventuras tanto no plano econômico como no político. No primeiro caso, as tentativas fracassadas de reorganização do padrão-ouro sob a liderança inglesa incentivaram ainda mais o isolamento econômico dos países. No segundo caso, o que reforçava o primeiro, o hiato deixado pela falta de uma liderança no plano político e filosófico ampliou a radicalização representada, por um lado, pela extrema direita de cunho fascista que ascendeu ao longo da década de vinte, e, por outro, pela esquerda fascinada pela experiência soviética. O fato, como define Charles Kindleberger, de a liderança não ser mais Londres, mas ainda não ser Nova Iorque (“no longer London, not yet New York”, argumento apresentado na obra Manias, Panics and Crashs: A History of Financial Crises, Basic Books, 1978) deixou um espaço que foi ocupado pelas propostas autoritárias e antiliberais de fascistas e socialistas. Se a crise de 1929 acelerou esse processo de ocupação do hiato de liderança, o fim da Segunda Grande Guerra em 1945 e a queda do Muro de Berlim, 44 anos depois, encerraram esse mesmo processo.
Não que a historia tenha terminado. Afinal, outras alternativas se apresentam. Os próprios norte-americanos por vezes duvidam do modelo proposto por Wilson. E muitas vezes apontam para outras soluções que, parcialmente, contradizem tal proposta. Vide as posições dos governos Nixon, George W. Bush e Trump. Até porque quando muitos não identificam a história em prazos diferentes daqueles que parecem óbvios, não percebem que aquilo que aparentemente foi derrotado, no prazo mais alongado e com as transformações necessárias, é o que sobrevive.
Assim, faz cem anos que nasceu o século vinte. Não pela Revolução Russa e fundação da URSS, que representou a alternativa ao modelo capitalista, democrático e liberal dos EUA ao longo da segunda metade do século. Mas, justamente, porque foi a primeira vez que, de modo mais amplo e internacional, os EUA apresentaram, ainda que em estágio inicial e, por isso, com baixa capacidade de impacto imediato, a ideia que seria, décadas depois, a síntese do século vinte: institucionalização das regras, compartilhamento da liderança, igualdade entre os membros da comunidade internacional.
Vinícius Müller Vinícius Müller é doutor em História Econômica pela USP e professor do Insper.
Nenhum comentário:
Postar um comentário