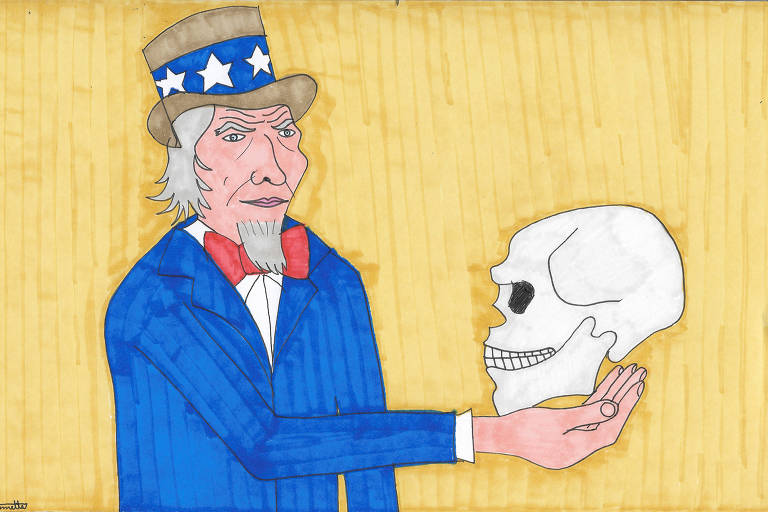Perdi mais um amigo de covid. Virou rotina. Cismei de contabilizar as perdas que mais intensamente me atingiram nos últimos 10 meses, e só me lembrei de três exceções ao flagelo virótico: Nirlando Beirão, Pete Hamill e Zuza Homem de Mello, abatidos por outras enfermidades. No início da semana, o vírus nos levou José Silveira, um dos últimos moicanos da era de ouro do jornalismo.
Não conheci ninguém que não o admirasse como profissional, e daria para contar nos dedos os que não têm ao menos uma história divertida com ou sobre ele dentro de uma redação ou fora dela. Em todos os jornais por onde andou – Última Hora, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, além do Estadão – muito ensinou até a quem acreditava já saber tudo sobre como fechar uma edição, encontrar o melhor título para uma reportagem, limpar as impurezas de um texto e cortar uma foto para dar mais realce gráfico à primeira página.
Secretário de redação incomparável, uma de suas mais decantadas proezas – reduzir um artigo de oito laudas de Antonio Houaiss a duas, sem deixar nada de fora – entrou para o folclore do jornalismo, com ajuda suplementar de Paulo Francis, que adorava relembrá-la, até porque achava Houaiss verborrágico e rebuscado além da conta.
Tive o privilégio de conviver com três Silveiras memoráveis: o editor de livros Ênio Silveira (1925-1996) e os jornalistas José e Joel Silveira, que não eram parentes e até hoje são vez por outra confundidos por quem não é do ramo. O gaúcho Zé Silveira, que morreu quatro dias atrás, aos 87, não foi o “melhor repórter da imprensa brasileira em todos os tempos” conforme exaltado e pranteado por mais de um internauta, no meio da semana. O repórter aludido era o sergipano Joel, que se foi com um ano a mais de idade, em agosto de 2008.
Nunca soube se os dois chegaram a ser amigos. Conheci ambos na mesma época, começo dos anos 60, mas, no Correio da Manhã, convivi apenas com o Zé Silveira, que, levado por Jânio de Freitas, chefiou por alguns meses o copy desk do jornal. Reencontrei-o, pouco tempo depois, no Jornal do Brasil e, em 1981, a ele e Jânio, na sucursal carioca da Folha.
Poucos colegas me inspiraram tanto respeito e reverente temor quanto ele. E eu nem trabalhava no copy; receava-o a distância. Suas observações, com frequência irônicas, eram microlições de sabedoria e acuidade jornalística.
Ele era o manual de redação antropoide do JB. Corrigia palavras que, nos textos, sobravam ou descabiam. Em seu índex abundavam as banalidades e os chavões consagrados pela imprensa como “via de regra”, “abordado pela reportagem”, “morreu ao dar entrada no hospital”, “o morto deixou mulher e filhos”. Embora pudesse dizer que “via de regra é vagina”, como outros já haviam dito, apenas comentava: “As mulheres sabem do que se trata”.
Para o “Seu Silveira”, repórter não aborda, os piratas sim; e as pessoas só morrem na entrada do hospital se nela houver uma guilhotina. “Mulher e filhos nunca são deixados pelo marido ao morrer; eles é que não quiseram ir com ele de jeito nenhum”, esclarecia, em tom quase professoral.
Chefiado por Alberto Dines, ele ajudou a bolar aquela histórica primeira página sem manchete e sem foto, só com um texto corrido sobre a morte de Allende, em setembro de 1973. A Censura do general Médici proibira a publicação de manchetes e fotos sobre o golpe no Chile. Sem desobedecer à ordem dos milicos, o JB logrou chegar às bancas com uma primeira página dez vezes mais impactante.
Seu parônimo sergipano glorificou-se como repórter, o melhor de sua geração. Comandou algumas redações, mas se esbaldava mesmo era gastando a sola dos sapatos e esquentando as orelhas ao telefone, na trilha de uma reportagem. Até o final da vida, lamentou haver desperdiçado a chance de entrevistar Hemingway e nunca haver descoberto o que Tancredo Neves, tão logo eleito presidente, foi conversar, sigilosamente, com o general Ernani Ayrosal, um dos esteios do golpe de 1964, em seu apartamento (dele, Joel), em Copacabana. Pior: em seu quarto de dormir.
Joel cobriu a Segunda Guerra para os Diários Associados, por escolha pessoal de Assis Chateaubriand, impedido pela ditadura do Estado Novo de enviar para o front o repórter Carlos Lacerda. Seus relatos da campanha na Itália têm momentos de alta ficção e podem ser lidos até hoje, em livros antológicos, entre os quais destaco O Inverno na Guerra, com um tocante desfecho cinematográfico.
Por conta, sobretudo, de duas brilhantes reportagens sobre hábitos e extravagâncias da elite burguesa paulistana, publicadas na revista Diretrizes, de Samuel Wainer, Joel acabou justamente consagrado como o pioneiro entre nós do que se convencionou chamar de “jornalismo literário”.
Nunca apurei por que, mas sempre que me encontrava, abria os braços e exclamava: “Flor do Lácio!”, como se fosse mais um apelido do que um elogio. Era uma víbora, no sentido de maledicente, traço que Chateaubriand talvez tenha sido o primeiro a perceber e exaltar como sua segunda maior virtude. Adorava Beethoven e execrava turistas, alpinistas, “tocadores de cavaquinho gordos” – e João Gilberto.
Dos colaboradores do Pasquim, ninguém enviava mais notas para a seção de Dicas. Não dava para publicar todas; mas ele jamais se queixou da seleção que eu, como editor da seção, era obrigado a fazer. Se não tinha a quem pichar, mandava um pau, o mais das vezes gratuito, no seu Bei de Túnis, João Gilberto. Mas é claro que não foi por isso que o prenderam sete vezes durante a ditadura militar.