Vivemos na era do reconhecimento. O vínculo entre esta e o ressentimento é significativo. Todos querem ser reconhecidos em sua condição, ainda que banal. "Sigo comedores de tortas roxas no Instagram e exijo meus direitos!"
A era do ressentimento é algo conhecido há algum tempo. Nietzsche, no século 19, já identificara o ressentimento como uma condição do rebanho humano indignado com a indiferença do universo para com ele —preste atenção: indiferença é igual a não reconhecimento.
Alexis de Tocqueville, também no século 19, nas suas memórias ("Souvenirs") da revolução de 1848 na França, se refere ao ressentimento, ainda que como um detalhe que pode escapar ao leitor apressado, como matériaprima do motor revolucionário.
Tocqueville, aristocrata da Normandia, famoso pelo seu volume "Democracia na América", era deputado constituinte na assembleia de 1848. Nesse momento, estoura mais uma tentativa revolucionária em Paris —e noutros lugares da Europa—, desta feita identificada com trabalhadores com intenções democráticas, cujo objetivo era incendiar a assembleia constituinte. O movimento derrubou o rei burguês Luís Felipe de Orleans e restaurou a república.
Nesse interim, Tocqueville é avisado que alguém próximo a ele tentaria matá-lo. Descoberto o potencial assassino, o aristocrata intelectual se refere a ele como um ressentido, portanto, potencialmente, um socialista.
Hoje, a publicidade começa a refletir sobre a era do ressentimento. A publicidade já foi um espaço sofisticado de análise do comportamento contemporâneo, mas os seus praticantes ficaram mais lentos desde que decidiram acreditar que deveriam fazer um mundo melhor. Passaram a crer que poderiam melhorar o mundo com propaganda de bancos e marketing de causa.
O resultado é que perderam a acuidade analítica, típico de quem é movido por causas. Toda militância implica redução cognitiva e epistêmica —trocando em miúdos, redução da inteligência aplicada.
E a era do reconhecimento? De partida, ela é, em alguma medida, decorrente do ressentimento de quem se julga pouco reconhecido por algum agente que tem poder no mundo e no cosmo —como bem viu Nietzsche. A busca por reconhecimento implica, quase sempre, a tentativa de destruir aquele de quem buscamos nosso reconhecimento. Tocqueville compreendeu bem essa dinâmica que trai a raiz ressentida de quem busca reconhecimento.
Para Axel Honeth, "herdeiro" da chamada Escola de Frankfurt, o reconhecimento é passo intrínseco da justiça. Através dele, um ator social pode construir sua identidade participante da cidadania. De certa forma, sem ela não há propriamente existência social.
Reconhecimento hoje é parte do marketing existencial, isto é, do marketing que vende significado. Mais do que "simplesmente" parte da construção de uma identidade cidadã, ele é um produto vendido para consumidores de identidades e de reconhecimento em geral e visa gerar relevância social, política e psicológica ali onde não há.
O romance "O Leopardo" de Giuseppe Tomasi di Lampedusa —que começou a ser escrito em 1954—, adaptado para o cinema, e mais recentemente, para uma série da Netflix, demonstra de forma sofisticada e clara o processo em que identidades psicológicas e sociais são entidades entrelaçadas de modo indissolúvel. E mais: como processos históricos disruptivos do tecido social e da hierarquia política põem em movimento criação e destruição de subjetividades.
A "revolução italiana" que unificou a península chega à Sicília em 1860, onde se passa o romance, e atinge a família do príncipe dom Fabrizio Salina. O príncipe, junto com seu sobrinho Tancredi Falconeri, no filme interpretado por Alain Delon, e a belíssima Angelica, uma burguesa nova rica de moral duvidosa no filme interpretada por Claudia Cardinale, uma deusa devassa, são os protagonistas.
A "hipótese de Tocqueville" parece ser comprovada pela narrativa ficcional do "Leopardo". Como diz o príncipe, num dado momento, os leões e os leopardos —a aristocracia— serão substituídos pelas hienas e pelos chacais —aqueles que buscam o poder, os burgueses e o "povo". A paixão política essencial aqui é o ressentimento de quem não tem o poder para com quem o detém.
O príncipe se reconhece como uma geração desgraçada que nem se identifica com o mundo que está a morrer, nem com o novo mundo que está a nascer. Portanto, não repousa social nem politicamente em lugar algum, daí sua subjetividade caminha para o aniquilamento. A era do reconhecimento é a era do ressentimento, raiz de toda violência revolucionária.
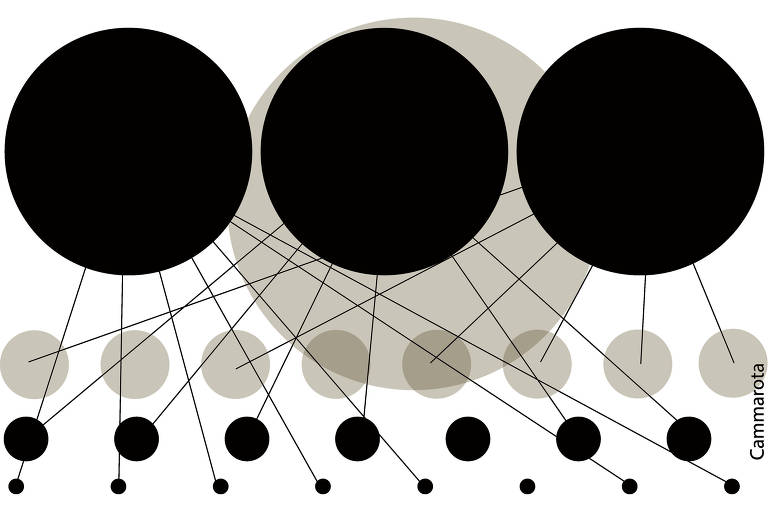
Nenhum comentário:
Postar um comentário